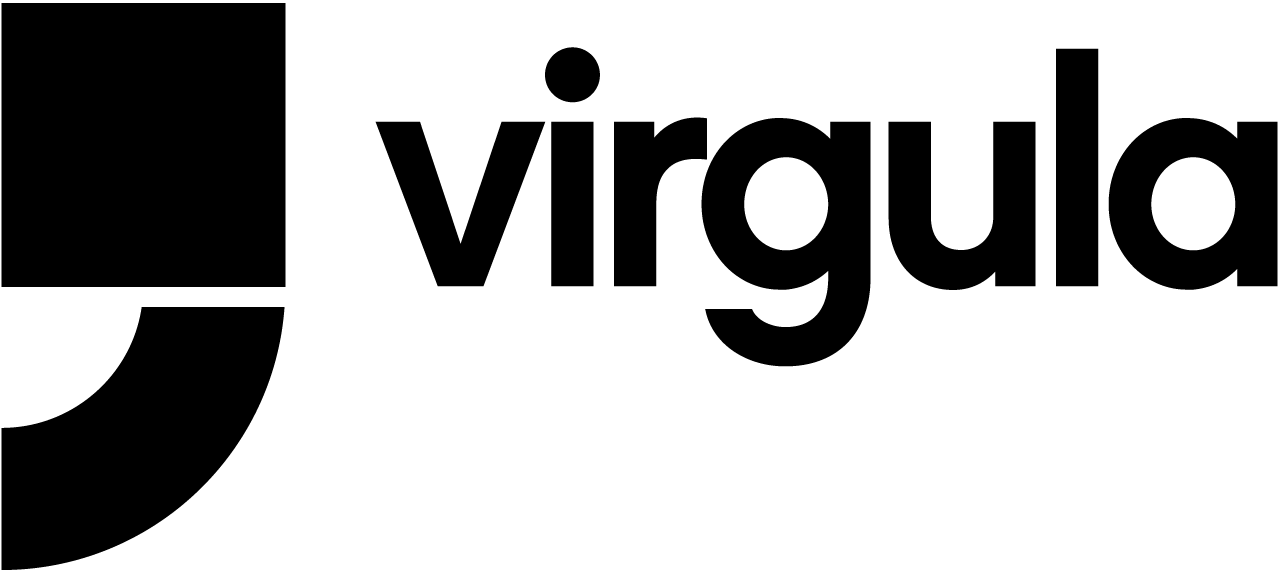Bixiga 70
Se fosse um time de futebol, o Bixiga 70 seria adepto do esquema implantado pelo Carrossel Holandês, equipe que revolucionou o futebol em 1974. Como a seleção laranja, a banda com dez integrantes gosta de fazer a bola rolar.
“A gente até hoje quando fala que toca no Bixiga 70 perguntam: “Você toca o quê?”. Eu estou lá na frente lá e as pessoas realmente não se ligam em um ou em outro por causa disso, a gente fica passando a bola”, afirma o tecladista e guitarrista Maurício Fleury.
“Geralmente são dois ou três que vão cuidar de entregar o disco, de fazer a lojinha no final. A gente tenta distribuir, de alguns fazerem alguma coisa e os outros outras. Mas é sempre coletivamente, mesmo nas funções divididas, sempre vai mais de um”, completa.
“Nesse momento, o artista cuida mais do seu próprio trabalho. Com essa história do fim das gravadoras, o artista passou a acumular funções, além do trabalho artístico, ele tem que ser gestor da carreira dele”, afirma o baxista Marcelo Dworecki. A reportagem do Virgula Música foi até o estúdio deles, o Traquitana, na rua 13 de maio, 70.
Do endereço, , no bairro paulistano do Bixiga, vem o nome e a alma da banda: “Se não fosse esse espaço, talvez a banda não existisse”, resume o percussionista Gustavo Cék.
Na “comuna”, ao lado de Dworecki, Fleury e Cék estão: Décio 7 (bateria), Cris Scabello (guitarra), Rômulo Nardes (percussão), Daniel Nogueira (sax tenor), Cuca Ferreira (sax baritono), Douglas Antunes (trombone) e Daniel Gralha (trompete). A maneira como eles próprios gerem seu negócio, o Traqutana se aproxima da república Kalakuta, fundada pelo nigeriano Fela Kuti, o pai do afrobeat, referência não apenas deles, mas de toda a música contemporânea.
Praticando a música total ou solidária, apenas para ficar com as metáforas do futebol total e solidário, da Holanda de 74 de Johan Cruyff, Johan Neeskens e Rob Rensenbrink, os músicos do Bixiga jogam em todas as posições.
Em menos de três anos, lançaram dois discos e fizeram duas turnês internacionais, tendo se apresentado em um dos festivais mais prestigiados do mundo, o Roskilde, na Dinamarca.
Na entrevista, eles mostram que fazem parte de uma linhagem de artistas que provou que a música instrumental brasileira não é música de “tiozão”. Ela pode ser popular, dançante e, ao mesmo tempo, roqueira e explosiva. Leia a seguir a conversa:
Bixiga 70 – Deixa a Gira Girar (Mateus Aleluia / Dadinho)
Como é a dinâmica do grupo? Vocês trabalham sempre coletivamente ou algumas funções são divididas e é um coletivo de forças individuais?
Maurício Fleury – É mais a segunda. É lógico que acaba dividindo, cada um faz uma coisa, mas sempre coletivamente, mesmo dentro das funções divididas, geralmente são dois ou três que vão cuidar de entregar o disco, de fazer a lojinha no final. A gente tenta distribuir, de alguns fazerem alguma coisa e os outros outras. Mas é sempre coletivamente, mesmo nas funções divididas, sempre vai mais de um.
E vocês acham que isso é uma características dos tempos de hoje? Como no caso de muitos de vocês que já vieram de outros projetos e continuam fazendo parcerias fora do grupo, vocês produzem coisas…
Marcelo Dworecki – Eu acho que nesse momento o artista cuida mais do seu próprio trabalho. Essa história do fim das gravadoras, o artista passou a acumular funções, além do trabalho artístico, ele tem que ser gestor da carreira dele.
Todo mundo que tá aí tocando, tem um pouco ali do olho do dono sempre lá, está rolando isso… Acho que é uma característica da cena independente, isso é até mais marcante que da época. Quem se propõe a fazer um trabalho mais autoral e mais independente, por necessidade e por opção acaba caindo nisso, de ter que cuidar do próprio trabalho mesmo.
Fleury – E sempre vai partir da união de forças, mesmo artistas solos, por exemplo, o cara sempre vai ter um parceiro aqui, outro ali, que é da produção, que faz os arranjos. Como o Marcelo falou, como mudou o cenário e a pessoa tem que tomar conta do próprio trabalho, encontrar parceiros já é um primeiro passo, mesmo para quem se propõe a defender um trabalho autoral que vai carregar um nome só.
Acho que mesmo assim sempre vai partir da união de forças porque não é um método claro, precisa ser inventado quando uma pessoa vai fazer um disco, não é por uma gravadora normal, vai ter que organizar. Aparece alguém: “Eu estou fazendo um edital, mas vamos apostar comigo”. Enfim, várias outras coisas que a pessoa vai precisar acabar achando os parceiros e essa relação não vai ser contratual, tipo: “Ah, contratei o cara tal e tal, vai ser uma coisa de, não, esse cara é parceiro, consigo fazer com ele, consigo fazer com que isso vire grana para nós”.
Mas a cada trabalho vai ser definida uma estrutura. E essa definição dessa estrutura é na base da parceria, isso para todo mundo. E acho que tem a ver com o momento, sim, por a gente ter que inventar métodos de produção de disco que não são mais os tradicionais.
Ocupai – Bixiga 70
É verdade que vocês ensaiaram três meses, diariamente, para chegar e gravar o disco ao vivo no estúdio?
Scabello – Esse disco é resultado exatamente do processo de amadurecimento da banda nos palcos e nas viagens e internamente nos nossos arranjos, tanto do que a gente trabalha a dinâmica, quanto nas composições. E a gente realmente com essa evolução da banda enquanto músicos e instrumentistas, a gente se preocupou em querer registrar muito mais esse tipo de som, de imprimir esse tipo de música no nosso disco, que a gente fez no primeiro disco. Então, para solucionar isso, a gente falou, não vamos gravar ao vivo, vamos aumentar o ritmo, a velocidade das músicas, vamos pensar em um som mais pegado e gravar ao vivo.
Então, para gravar ao vivo com o máximo de energia, de calor do momento, a gente de dedicou, não sei nem não nem quanto tempo, se foram três meses, foi incontável…
Cuca Ferreira – Eu fiz a conta, deu umas 400 horas.
Dworecki – A gravação mesmo foi rápida, se você pensar uma semana para gravar um disco, diversas pessoas que estão aqui já participaram de gravações de disco e demorou muito mais do que isso. Mas realmente o que antecedeu é onde mora o suor maior.
Scabello – E o segredo do disco não foi essa semana. Essa semana foi trabalho de peão, vir aqui, executar, tocar direitinho e suar a camisa. Mas isso é resultado de meses de trabalho, de banda, de show, de palco. A gente tocou realmente bastante no período que antecedeu a gravação do disco.
Ferreira – Foi interessante também que quando a gente decidiu gravar mais ou menos em tal época, a gente não tinha o repertório inteiro do disco. Então, teve também um tempo de composição coletiva mesmo. A partir de uma ideia de um, o grupo absorvia isso, pegou algumas canções que não existiam quando a gente foi gravar o disco ainda.
Dworecki – Mas tendo essa preocupação também que o Cris tinha colocado, de fazer soar como as coisas soavam no palco. Então, essa demora foi para ter essa maturação.
Fleury – É o negócio do método que eu falei, o método vai se configurando à medida em que você vai fazendo. Precisava fazer uma pré-produção e ensaiar bastante, começou a ensaiar bastante, começou a brotar música nova, daí precisou ensaiar mais, mais um, dois meses, a partir desse começo. Então, é como eu falei, a gente mira em objetivo e tenta chegar em um método para viabilizar.
A aventura é chegar nesse método, nesse processo. E o mesmo vale para a própria banda, a gente é uma banda super-recente e tal, mas cada um tem uma experiência anterior, em diversos outros ambientes, às vezes até não musicais, mas que vão somar nas nossa experiêmcia, nas nossas discussões, no nosso processo criativo.
Que a galera se juntou faz relativamente pouco tempo, mas tudo mundo já tinha um pouco da sua viagem anterior que vai se somando, isso é uma constante, esse alinhamento das pessoas para fazer. E isso, onde a gente queria chegar.
A gente quer chegar no punch do ao vivo, então o que a gente precisa fazer, precisa ensaiar, precisa mudar isso, mudar aquilo, vai descobrindo conforme foi acontecendo.
Bixiga 70 – Kalimba (Cris Scabello)
E como se deu uma aproximação maior com a música instrumental brasileira, sem deixar de perder a característica inicial do afrobeat, que vocês foram até catalisadores desse gênero da música pop africana na grande mídia e gerou até um interesse?
Fleury – É que para gente nunca teve muita diferença, na verdade, aqui acaba o afrobeat e ali começa a música brasileira. A gente tem uma piada, que desde o começo a gente tentava fazer afrobeat e não saía, saía música brasileira. Essa é nossa origem, esse diálogo a respeito da música instrumental brasileira, seja ele Hermeto Pascoal, dos grandes gênios, seja do Barata, dos caras do seu Manoel Cordeiro, os caras do carimbó, que também fazem música instrumental que talvez não entra nesse mesmo balaio do “bom gosto” do jazz e da música brasileira jazzística.
Mas essa música brasileira de baile tem informações tão naturais ou até mais que o afrobeat. O Dany Boy (Daniel Nogueira) comanda uma banda maravilhosa, que é o Projeto Coisa Fina, que trabalha justamente essa tradição instrumental brasileira, com uma banda maior ainda que o Bixiga. E esses diálogos todos permeiam a banda, a gente não fica muito limitando, vamos falar de afrobeat, falar disso, falar daquilo.
A gente vai naturalmente, a gente conversa sobre rap e isso e é tão importante quanto Hermeto Pascoal, Moacir Santos, (Arthur) Verocai, tão importante quanto, sei lá, o brega, o carimbó, tudo que a gente vai ouvindo e vai somando. Luiz Gonzaga, por exemplo, é uma coisa que todo mundo já carregava e a gente começou a mexer, a achar legal, como na Morte do Vaqueiro, que a gente toca.
Então, não tem muita limitação, sabe, o afrobeat foi um ponto de partida para gente estrear o som, que a gente queria fazer essa banda instrumental e o lugar onde cabia era esse no começo.
Scabello – Todo nós somos músicos instrumentistas. Curtir o som e pesquisar a música instrumental na vida de cada um é bem anterior à vida no Bixiga 70. Então, as referências são inúmeras, diversas, do jazz ao dub, passando por cada uma das casinhas assim mesmo.
Nogueira – Vale a pena lembrar um pouco que é importante ressignificar o termo afrobeat. Que o Brasil é afro em vários sentidos, tem várias batidas africanas que vieram para cá, diferentemente da indumentária do Fela Kuti e do contexto social e do contexto político que viveu na época e da mistura do jazz e das batidas africanas mesmo. E aí foi um som que se configurou naquela época, o afrobeat.
No Brasil, a gente tem diversas etnias africanas, com suas batidas. Então, o afrobeat aqui tem outro significado também.
Fleury – E ele é um hibridismo, ele é um gênero que começa híbrido, então é como o Cris estava falando, essas fusões que resutaram no caminho do afrobeat foram feitos por diversos artistas, somando as batidas africanas à música urbana, seja Os Ticoãs, Gilberto Gil, Chico Science. Esse caminho já foi feito de diversas maneiras porque a África já é enraizada com a base da música brasileira.
5 Esquinas – Bixiga 70
O sociólogo inglês Paul Gilroy chama isso de Atlântico Negro, onde tinha o atlântico, a cultura africana se espalhou e se desenvolveu de maneiras diferentes.
Gustavo Cék – Que é o filme do Pierre Verger também. É um dos filmes dele, Na Rota dos Orixás, o Atlântico Negro.
Scabello – Existe essa concepção, onde a África encostou, se prolifera, é uma coisa muito fértil, e o Atlântico foi responsável por distribuir pelos continentes.
Por vocês serem uma banda instrumental, antes existia uma certa barreira, um estigma de que não se podia alcançar o sucesso, hoje até pelo papel que vocês tiveram isso caiu. O público foi decisivo para que essa mudança ocorresse?
Cuca – Pra gente o instrumental por si só nunca foi a bandeira, a gente nunca achou que isso definia o som. O que a gente queria era um som de muita mistura e que fosse um som para galera dançar, não fosse um som para ser assistido. Claro que a gente toca em um monte de teatro, às vezes. Mas não é um som intelectual, no sentido ruim da palavra. É um som para galera curtir, como se curte música cantada.
Eu acho que ao não priorizar a questão de não levantar o instrumental como bandeira, ficou mais natural na conexão com o público. Quando você pensa fora do Brasil acho que é até mais fácil, não depende da letra para galera entender a mensagem, depende do som e da energia que a gente coloca.
Então, nesse sentido é mais fácil você chegar em um público que não entende a língua portuguesa porque a gente não depende dela para se comunicar. Agora, claro que se você olhar para o público do nosso show, não é um público que tradicionalmente iria a um show de música instrumental, na classificação que o Maurício deu, agora há pouco, que é um show mais jazziado, que a gente também adora. Mas, porque a gente foi numa de mistura de energia e conexão com o público desde o começo.
Kriptonita – Bixiga 70
Scabello – Que é uma coisa bastante da música africana. A dança vem antes da própria música, a música vem a partir do pé de dança do orixá ou do dançarino, da dançarina.
Fleury – E tem um lado mântrico também do dub, dos caras já traziam desde o começo. Que pode ter vocal, pode não ter, mas não é o que vai conduzir. Mas o que eu acho legal e a gente tenta trabalhar também é a ausência de uma figura principal, já que a gente vive há muito tempo um mito da individualidade. Como se um cara fosse superior, aquele é o cara, ele é o cara.
Popstar…
Fleury – Popstar e tal. E a gente até hoje encontra um cara e quando fala que toca no Bixiga 70 perguntam: “Você toca o quê?”. Eu estou lá na frente lá e as pessoas realmente não se ligam em um ou em outro por causa disso, a gente fica passando a bola.
Ferreira – E a gente parou de apresentar os músicos da banda logo no começo, não falar o nome de todos os músicos. E eu achei legal porque é a banda.
Fleury – Depois, já está também no disco, no site, quem quiser pesquisar…
Ferreira – Agora, o que eu queria dizer também nesse sentido, é que tem uma linhagem de bandas brasileiras também, de anos para cá, que conseguiram isso, esse tipo de conexão com o público. E bandas que a gente é superamigo e que estão ativas, muito ativas, você pega o Funk Como Le Gusta, que faz misturando mais o funk, o Sossega Leão que fez misturando com música latina, Black Rio, que são caras de grande impotância, então, nem se fala. A música brasileira também tinha essa coisa.
A Metalurgia, do Bocato…
Ferreira – Metalurgia, que a gente adora, de São Bernardo, tenho o vinil dos caras até hoje.
Fleury – E teve amigos nossos, que vendo nossos shows aqui no Bexiga, nosso baile, vieram falar: “Vocês estão fazendo como essas bandas dos anos 80: Metalurgia, Sossega Leão, aqui no bairro mesmo.
Ferreira – O Piu Piu era uma casa que tinha todo esse movimento.
Fleury – A gente não tem essa ilusão de que estamos fazendo um negócio supernovo, temos que balizar o que estamos fazendo entendendo o que já foi e da onde vem, que não é um território inexplorado, como o Cuca está levantando aí.
É um caminho que já existiu e a gente tenta fazer o nosso, mas levando em conta que já foi feita muita coisa pela música instrumental brasileira, não é uma coisa tão restrita.
O Tigre – Bixiga 70
Queria também que vocês falassem da importância desse espaço, na banda tem até o 70 do endereço…
Cék – Esse espaço é preponderante para que a banda exista, esteja de pé, se não fosse esse espaço, talvez a banda não existisse também.
Ferreira – Não daria para ter todas essas horas de ensaio (risos).
Fleury – Por isso essa referência direta, o Bixiga 70 é isso aqui, esse espaço. Por isso que foi nomeada a banda a partir do espaço, porque se fosse falar onde cada um mora, teria de ser um nome quilométrico, com muitos números.
E a banda existe por causa do espaço e esse espaço tem uma história musical grande, que é do Telecoteco da Paróquia, um bar que foi aberto por músicos do antigo bar Jogral, que foi um marco na música de São Paulo, nos anos 70, final dos 60.
E aí existe a história dos caras que saíram do Jogral e fundaram um bar dos músicos, que era aqui nesse lugar, saindo por essa porta aqui, para a rua Santo Antônio, a fachada seria nessa parede (mostra).
Bixiga 70, Tangará
Enfim, aqui foi onde Benito de Paula lançou Retalhos de Cetim, e onde também dizem que já veio Stevie Wonder dar canja, teve temporada do Hermeto. A gente quanto mais a gente mexe, mais história vem, a gente nem sabe muito porque é muita história, mas essa energia musical acaba permanecendo.
Scabello – E a gente está ocupando esse espaço especial mesmo, que é um privilégio para gente fazer parte desse ciclo de renovação da música.
Fleury – E também podemos falar da importância do Toni Nogueira, que é o dono do prédio e o disco é dedicado a ele muito por isso. De ser o cara que conhece, viveu toda essa história da música aqui e apoia a gente desde o começo.
É um cara que sem ele muita coisa podia não ter acontecido, porque ele é um cara que entende o que aconteceu e também observou esse piques nos caras e depois na banda inteira e a gente acabou criando coisas legais e um exemplo é o Dia do Grafite, que vai rolar em março. O Toni já fazia e o Bixiga encampou totalmente, o Cris é o cara que hoje em dia encabeça esse evento.
Tem o dia?
Scabello – 30 de março.
Retirantes, Bixiga 70
E os próximos discos que vão sair daqui do Traquitana?
Scabelo – Cara, a gente terminou de gravar o disco da Alzira E, tem o disco do Galego, tem umas outras faixas sendo encomendadas, a gente está pré-produzindo o disco da Anelis (Assumpção), talvez ela grave alguma coisa por aqui. E tem uma turma, tem o Goma-Laca do Ronaldo Evangelista.
Dworecki – Tem esse disco com direção musical do Letieres Leite (arranjador, maestro, multi-instrumentista baiano, líder da Orquestra Rumpilezz), que vai ser gravado daqui a duas semanas. Que é uma pesquisa das primeiras canções de candomblé que tem gravado no Brasil em 1929, 30 e 31, em 78 rotações. O Ronaldo Evangelista, que é nosso chapa, pesquisou isso e eles vão gravar um disco ao vivo aqui.
Fleury – Com os arranjos do Letieres para essas releituras desses clássicos bem do começo das gravações.
Scabello – Tem também uma galera de Santo André, Orquestra Nômade, que tem uma pegada bem parecida com a do Bixiga, bem groove, afrojazz experimental, bem rock and roll.
Isa – Bixiga 70