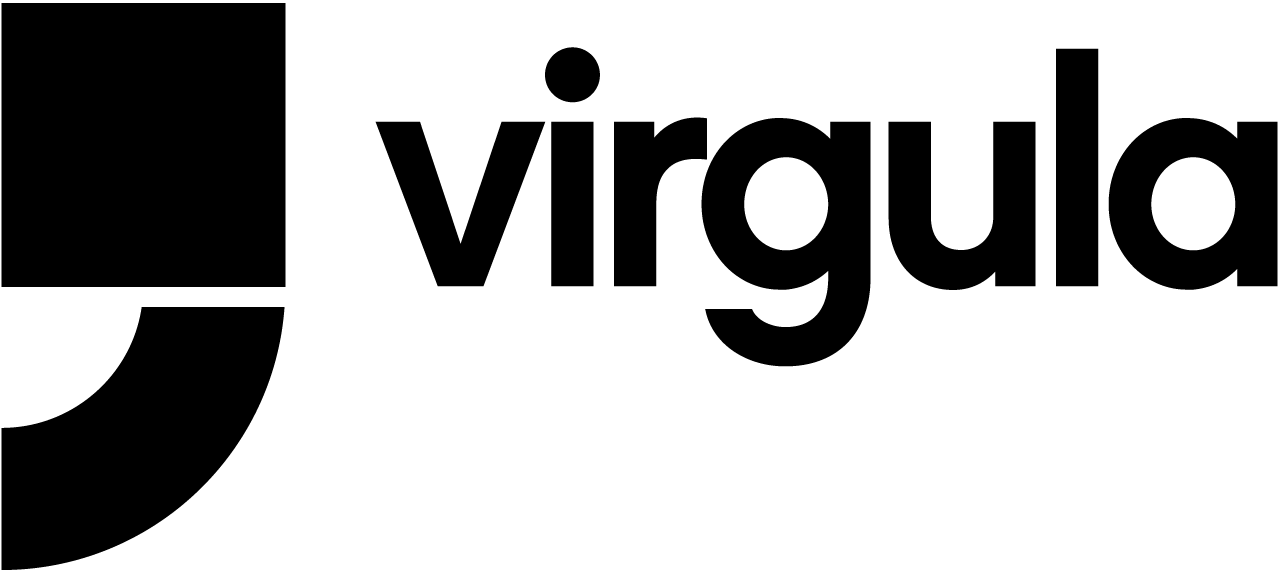No mês passado aconteceu a abertura da exposição De Dentro Para Fora, De Fora Para Dentro, no MASP, com trabalhos dos artistas Carlos Dias, Daniel Melim, Ramon Martins, Stephan Doitschinoff, Titi Freak e Zezão.
Enquanto centenas de pessoas circulavam pelo andar de arte contemporânea do museu, ouvi um amigo comentar: Que delícia! Desde os anos 80 eu não via uma abertura tão vibrante no MASP!.
Olhei ao meu redor e apesar de ser de uma geração um pouco mais nova, vi um sentido enorme naquilo que ele dizia. Havia uma cena ali. E havia muita energia.
A maioria das pessoas que estavam lá se conheciam de rolês e experiências profissionais compartilhadas em forma de cadeia infinita. Uma rede social gigante, urbana, paulistana.
Lá estavam também algumas das pessoas que hoje são decisivas nos rumos que a arte toma na cidade, incentivando, diretamente, a produção artística desde que este mercado existe: os colecionadores.
Ou melhor, os novos colecionadores. Que estão em busca de coisas diferentes de quem andava por galerias e ateliês nos 80, mas que continuam atentos ao caráter especulativo que a arte pode adquirir. Sem estarem, necessariamente, especulando.
Nunca comprei uma peça que desvalorizou, graças a deus. Mas sou 100% movida a paixão e intuição. Se eu amo, eu compro, revela Julia Sander, 24.
Há quatro anos, Julia tem o hábito de ir em feiras e exposições no Brasil e no exterior, frequentar ateliês e o círculo fechado das artes plásticas para conhecer e comprar suas obras preferidas.
Minha família sempre colecionou arte, meus bisavós compravam os (artistas) modernistas, conta ela, que acaba de voltar da Art Basel Miami, uma das maiores feiras de arte do mundo, onde comprou um trabalho da artista suiça Pipilotte Rist.
Odeio advisors, que ficam tentando dizer em qual artista devemos investir, quem vai valorizar. Hoje as pessoas são muito sem personalidade. Acho inconcebível ter algo na sala que não faz nenhum sentido para você, opina ela, que prefere artistas jovens e independentes, como Silvana Melo, da Choque Cultural.
Tenho um quadro dela de uns seis anos atrás e é o máximo ver como seu trabalho mudou, de uma fase mais de pintura para o momento atual, com bordados. E me identifico muito com a personagem que ela desenha.
A paixão por arte é tão grande que Julia, que se permite gastar de R$ 100 a R$ 150 mil por ano em obras, reservou uma parede inteira do seu apartamento onde já não cabem mais quadros para quando ela achar um trabalho especial: Estou esperando A PEÇA.
Na mesma linha do arrebatamento buscado por Júlia, vai o publicitário German Carmona, 33, que procura uma história por trás de cada trabalho que compra.
Ele começou a colecionar arte em 2005, depois de voltar de uma temporada fazendo mestrado em estética e história da arte na Goldsmiths, berço da arte contemporânea em Londres. Começei a visitar galerias e me identifiquei muito com o trabalho que a Choque Cultural faz com artistas urbanos.
Além da Choque, onde já comprou telas dos artistas Carlos Dias (Os primeiros trabalhos dele) e Daniel Melim, German costuma frequentar aberturas na Galeria Polinésia, bazares de artistas independentes e a feira SP Arte.
Tenho um teto, não gasto mais que R$ 5 mil, revela o publicitário, que acha bacana acompanhar a evolução de um artista e investir no trabalho dele.
“Já existe um mercado institucionalizado de arte. É claro que tem gente que investe pensando em valorizar a obra. E tem um grupo como eu, que está preocupado com a questão estética, a temática abordada e o desenvolvimento do artista em si. O mercado está crescendo e tem espaço para todos. Minha preocupação é minha conexão com a obra, conta.
No ano passado, por causa da crise econômica que dominou o cenário mundial, German pensou, pela primeira vez, em vender alguma obra que comprou. É obvio que é interessante fazer uma aquisição que cresceu em termos financeiros, mas não é o que me move. Não consegui vender. Se um dia tiver que fazer, será uma das últimas resoluções.
A relação do economista Daniel Reischstul, 31, com as peças que adquire é de prazer. Gosto de comprar coisas bonitas para minha casa, descreve ele, que frequenta a Choque Cultural, a Galeria Polinésia e também acompanha trabalhos de artistas independentes, como Rodrigo Bueno, de quem já tem três peças.
Nunca me aconteceu de gastar R$ 7 mil numa obra, mas não acharia um absurdo. Admiro a vida do artista, é uma forma de contribuir, conta o economista, que geralmente compra telas e está começando a se interessar por fotografia.
Segundo Eduardo Saretta, um dos sócios da Choque Cultural, a galeria cresce 100% ao ano. Criada em 2003, vende gravuras a partir de R$ 150 e faz atendimentos personalizados com compradores.
Nosso resultado é fruto de um amadurecimento dos artistas e das possibilidades que a gente abriu, dos intercâmbios, conta ele, Além da confiança e da capacidade dos compradores a aderirem a esse tipo de arte.
Para Pedro Caetano, 31, sócio da Galeria Polinésia, que existe há três anos, o mercado no Brasil ainda é muito pequeno. Por isso as coisas são caras. Acho até um pouco preocupante, opina ele, para quem a importância da arte é gigantesca, especialmente por propor uma perspectiva sobre a vida diferente do que é a realidade.
Hoje as pessoas estão consumindo arte através de marcas, customização, toy art, deixando de lado a importância do fazer artístico, da peça única.
O mercado de arte sobrevive sim por conta de gente que compra por status. As pessoas que sofrem por gostarem de uma coisa geralmente são as que não tem grana. A arte é um comodity. Não acho ruim quem compra para ter status. Mas é melhor que essa pessoa compre arte do que ações da Vale.