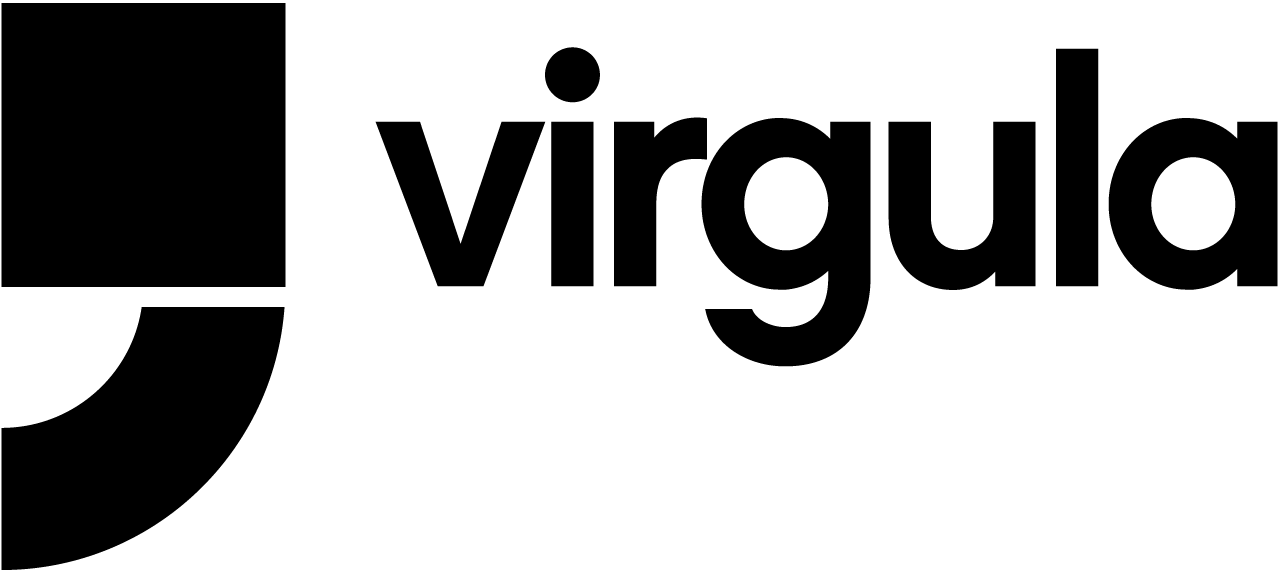Ahhh, nada como o segundo dia, quando a sua crise de ansiedade te dá uma trégua, você já reconheceu o terreno e sabe se mover entre os palcos com a fluidez de uma enguia. Apesar de o Coachella parecer conter, se isso era mesmo possível, o dobro do público que o ocupou no dia anterior, no sábado tudo parecia funcionar com mais maciez, uma vez as engrenagens desgastadas pela fricção da sexta. A experiência somada à alteração de consciência promovida pelo uso de ervas medicinais, que na Califórnia podem ser prescritas em qualquer esquina, fizeram com que o segundo dia fosse muito mais tranqüilo e menos cansativo que a sexta. No sábado, deixei de resistir às mudanças de humor bruscas de meu relógio e me lancei de peito à experiência de bola de aço em máquina de flipper.
A irresistível atração pelo Edward Sharpe & the Magnetic Zeros
Assim que a nuvem sobre a minha cabeça se dissipou (não me refiro ao clima em Indio, apesar dele também estar enevoado), me dirigi ao palco principal e aprendi uma segunda doce lição que o Coachella pode ter ensinar: você pode se surpreender se deixar de seguir os nomes familiares e arriscar-se por bandas que nunca ouviu falar. Confesso que fui ver o Edward Sharpe & the Magnetic Zeros atraído unicamente pela estranheza do nome.
Quando cheguei ao palco do Magnetic Zero, em 15 segundos estava perdidamente apaixonado pela banda, e não apenas pela música, que parecia ter atravessado algum warmhole e ter sido transportada temporalmente de 1971 para 2010, na mesma Califórnia. Hippie, doce, comunista, o hillbilly-folk-pop do Magnetic soava como um copo de limonada gelada em um dia de calor escaldante.
A banda de Ima Robot (que nome lindo!) dançou, riu, deu abraço comunitário, moshes, foi carregada pelos braços do povo, fizeram juras de amor entre si e com a platéia e quase fez a audiência inteira sair do Coachella e abraçar a maior sequóia ainda viva nos Estados Unidos. Saí dos Magnetic Zeros embevecido, feliz, acreditando no amor e capaz de beijar estranhos, até que os malditos membros do XX conseguiram estragar toda minha carga de hippismo.
0 XX 0
Se você não conhece o disco do XX isso é capaz de descredenciar a sua entrada em alguns círculos de São Paulo. Se você disser que ouviu e que não gosta de XX deixará de ser convidado a festas e passará a carregar a marca do mau gosto, marcado para sempre pela vexaminosa pecha de cafona, como se estivesse calçando crocs em uma buati.
Pois, peço licença aos formadores de opinião e afirmo categoricamente que o show do XX é uma botinada nos ovos, de uma fleuma mela-cueca intectualóide, insuportável e que tem timbres de euro-trance de bpm ultrareduzido, mas ainda reconhecíveis e indigestos. Não suportei sequer cinco músicas do grupo e, determinado a destruir sua fama, me dirigi ao vaudeville proposto por Faith No More e o seu genial anfitrião do terror, Mike Patton.
O circo de horror do FNM
Diante de uma gigantesca cortina carmim de veludo, de quilômetros de extensão, Mike Patton envergava um elegantíssimo terno vermelho cravejado de cristais, sobre camisa de cetim vermelha e suponho, pela composição monocromática do figurino, roupas de baixo vermelhas.
Os anos fizeram bem à Mike, que envelhece com maestria, como o som do FNM. Além de clássicos da banda, Mike apresentou composições desconhecidas, covers de death metal e até uma capella de Ben, de Michael Jackson. Foi um show divertidíssimo, díspare, irônico, altamente conceitual e que serviu de showcase da flexibilidade de Mike Patton, capaz de animar de festas infantis a bar mitzvahs a audiências de death e gore metal.
Todos em Indio esperam o terremoto que foi anunciado no sul do Califórnia em algum momento do festival, e finalmente a expectativa foi suprida à altura. Do show teatral e circente do FNM me dirigi a Diplo e seu Major Laser, quando o solo do Coachella finalmente tremeu.
Facundo Guerra é pós-graduado em jornalismo e sócio das casas Lions e Vegas e dos bares Volt e Z-Carniceria, em São Paulo.