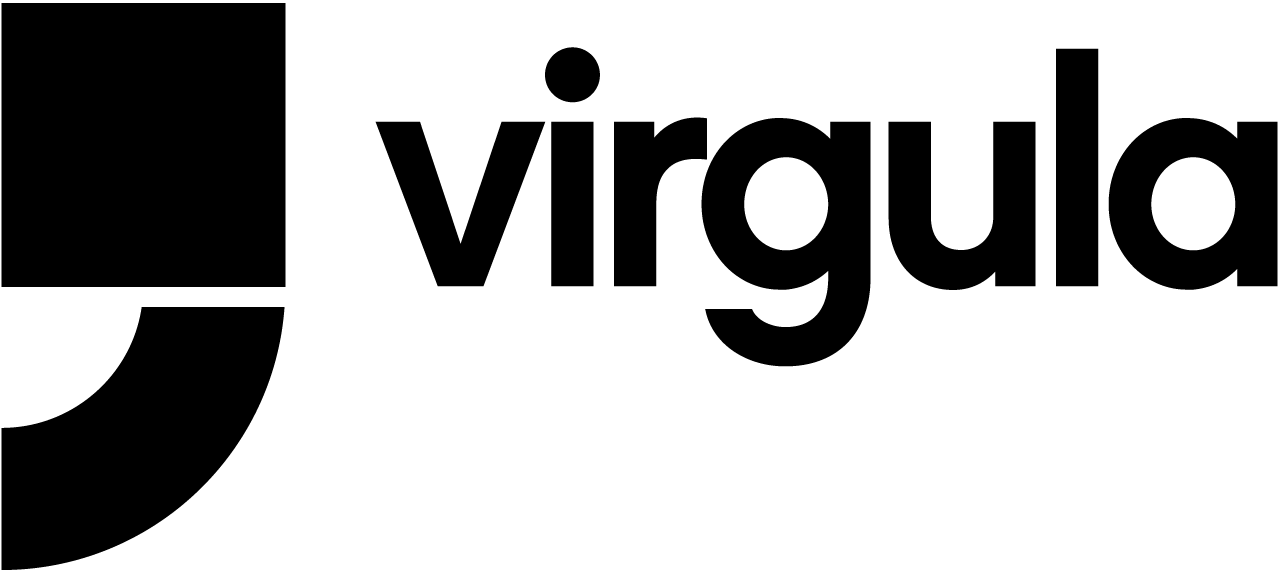No mesmo dia em que Fernando Henrique Cardoso toma posse na cadeira de número 36 da Academia Brasileira de Letras (ABL), é lançado em São Paulo, nesta terça-feira (10), o livro O Príncipe da Privataria. A obra do jornalista Palmério Dória fala de polêmicas envolvendo o ex-presidente, o escândalo de compra de votos para aprovar o projeto de reeleições presidenciais, privatizações do governo do PSDB, entre outros tópicos.
Por telefone, a assessoria da editora Geração Editorial afirma que a data do lançamento do livro ser a mesma que a da posse de FHC na ABL é pura coincidência.
Resultado de 20 anos de apuração, o livro também aborda a ligação do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com a CIA. Os bastidores da tentativa de venda da Petrobras, situação em que houve até a produção de uma nova identidade visual e o uso do nome Petrobrax, pra facilitar a compreensão pelos estrangeiros, também são revelados.
O autor também foi ao Acre se encontrar com o ex-deputado Narciso Mendes, que revelou em 2012 ser o “Senhor X”, polêmica fonte que gravou os deputados confessando a venda dos votos para reeleição, rendendo uma série de reportagens do jornalista Fernando Rodrigues, publicada pelo jornal Folha de São Paulo em 1997.
O livro é o 9° título da coleção História Agora da Geração Editorial, do qual faz parte A Privataria Tucana. Procurado pela reportagem do Virgula, a assessoria do ex-presidente não respondeu até o fechamento da matéria.
O Vírgula revela um trecho do livro. Leia abaixo.
Nota do Editor:
Conheci o sociólogo Fernando Henrique Cardoso em meados dos anos 70, quando pequenos grupos de esquerda enfrentavam a ditadura militar pelas armas, sem nenhuma possibilidade de vencer, e outros — entre os quais nos incluíamos — tentávamos fazer este enfrentamento no nível das ideias e das ações desarmadas, políticas.
Já em meados dos anos 80 — quando a ditadura saíra de cena e a chamada Nova República preparava‑se para entusiasmar e logo em seguida decepcionar o povo brasileiro — conheci também o ex-presidente da UNE e economista José Serra, que chegara ao país em 1977, de volta do exílio. Eu o vi pela primeira vez dançando numa festa em Brasília, um pouco antes da posse — que não houve — do presidente Tancredo Neves. A partir daí eu o veria muitas vezes mais, em campanhas cívicas, como a do parlamentarismo, e eleitorais.
A partir de 1978, quando fui trabalhar como jornalista e depois editor no jornal O Estado de S. Paulo, algumas poucas vezes eu entrevistei Fernando Henrique Cardoso em seu apartamento da Rua Maranhão, no bairro de Higienópolis, em São Paulo.
Quando se elegeu presidente da República, em 1994, eu já não era jornalista, mas consultor de politicas públicas. Não foram poucas as ocasiões em que, a serviço de organizações da sociedade civil, participei — junto com o governo de FHC — do desenvolvimento de políticas de emprego e renda, o que me obrigou a privar da intimidade de ministros e altos funcionários da República. E de reuniões com o próprio presidente, nos palácios do Planalto e da Alvorada.
Naquele período, privei também da intimidade do poderoso ministro Sérgio Motta, a quem admirei, apesar de seus métodos ocasionalmente pouco convencionais. Publiquei um livro sobre a vida dele, Sérgio Motta — um trator em ação, depois de sua morte.
Fiz questão de citar minha presença pessoal ao lado dessas três grandes personalidades da história e da política de nosso país porque, como editor da Geração Editorial, devo, assim creio, explicar por que estamos publicando este livro que você tem nas mãos — depois de ter publicado, com enorme estrondo, recentemente, o “Privataria Tucana”, de Amaury Ribeiro Jr., com os negócios estranhos de familiares do senhor José Serra, e pelo qual nossa editora está respondendo a meia dúzia de processos, dos quais sem dúvida sairemos vencedores, pois a verdade é uma só.
A Geração Editorial, “uma editora de verdade”, publica — ao lado de clássicos da literatura e outros livros de interesse geral — obras sobre nossa história recente, a chamada “história imediata”. Publicamos “Mil Dias de Solidão”, de Claudio Humberto, sobre os menos de três anos do governo de Fernando Collor; “Memórias das Trevas”, de João Carlos Teixeira Gomes, que precipitou a renúncia do então poderoso senador Antônio Carlos Magalhães; “Memorial do Escândalo”, de Gerson Camarotti, sobre o chamado “mensalão”; “Honoráveis Bandidos”, de Palmério Dória, sobre o controvertido uso do poder pela família Sarney no Maranhão e o referido “Privataria Tucana”, entre outros.
Assim como defendemos a liberdade de expressão para os jornais e revistas, a defendemos também para os livros. Estranhamente, o judiciário brasileiro tem tratado de forma desigual a imprensa e os livros. Poderosos afetados por denúncias em livros têm recorrido ao judiciário para impedir a circulação das obras e obter indenização por danos morais incomprovados, tentando inibir a liberdade de expressão.
No caso presente, não poderíamos deixar de dar guarida, em nossa editora, a este “O príncipe da privataria”, de Palmério Dória, o autor de “Honoráveis Bandidos”. Ele trata de questões dramáticas de nossa história: o governo dos chamados tucanos, sua política econômica neoliberal, sua proclamada relutância em priorizar ações sociais — substituídas pelas chamadas “políticas compensatórias” —, o uso de seu poder político para impedir investigações sobre denúncias de corrupção entre seus pares, a criticada venda do patrimônio público, a qualquer preço, com base em um modelo em que muitos podem ter enriquecido ilicitamente e, finalmente, a espantosa compra de votos para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso, governadores e prefeitos em todo o país.
As inéditas revelações do ex-deputado Narciso Mendes para esta edição — na qual ele revela ter sido o “Senhor X” que colheu gravações de colegas confessando terem recebido R$ 200 mil cada para apoiar a reeleição — comprova que a base da corrupção e do modelo supostamente democrático que a preserva é o sistema eleitoral baseado no financiamento privado. As revelações de Narciso Mendes são bem mais graves, em dimensão e valor, que as contidas no caso do mensalão.
O que nos obriga a ir direto ao ponto, o que pode ser, como se verá, bastante doloroso.
Em meados do governo Collor, no primeiro trimestre de 1991, quando o controvertido e incômodo amigo do presidente, Paulo Cesar Farias, já se tornara conhecido no meio político e empresarial, a atriz e empresária Ruth Escobar — adida cultural do governo em San Francisco, na Califórnia — ali promoveu um seminário sobre a cultura brasileira, com apoio do Itamaraty e da empresa Hidrobrasileira, de Sérgio Motta, o principal amigo de Fernando Henrique Cardoso.
Participei deste seminário, viajando com recursos próprios da entidade privada para a qual eu prestava consultoria. A variada e numerosa “troupe”, levada graciosamente em classe executiva pela Viação Aérea São Paulo — VASP, recém‑comprada por Wagner Canhedo, que depois faliu, era composta, entre outros, pelo então senador Fernando Henrique Cardoso, do PSDB e sua esposa Ruth, pelo senador Eduardo Suplicy, do PT e sua então esposa Marta, o sociólogo Bolívar Lamounier, o economista João Sayad, um dos autores do Plano Cruzado, o deputado José Fogaça, do PMDB gaúcho, o sindicalista Luiz Antônio de Medeiros, da recém-fundada Força Sindical, o patrocinador Sérgio Motta e sua esposa Wilma, a agitadora cultural Lulu Librandi e algumas socialites paulistanas.
A festa cultural durou uma semana, ao longo da qual Fernando Henrique, com seu inglês esplêndido, discursou no campus de Berkeley, da Universidade da Califórnia, sobre as especificidades da democracia brasileira. De público, falou o que se podia falar sem escândalo.
No entanto, numa manhã tediosa em que José Fogaça, em inglês macarrônico, falava algo ininteligível para americanos e brasileiros, Fernando Henrique levantou‑se conosco e foi para o fundo da sala. Ali, de frente para mim e ao lado de Bolívar Lamounier, falou um pouco sobre o governo Collor e as primeiras denúncias de corrupção.
O nome de PC Farias surgiu e, sem que ninguém o provocasse, Fernando Henrique defendeu que era urgente uma nova lei eleitoral.
De forma clara e sem censura, falou sobre o financiamento das campanhas eleitorais por empresas privadas, com recursos não contabilizados — o caixa 2 — e admitiu que nenhum partido e nenhum candidato podia naquela época prescindir desses recursos ilegais. E observava:
— Assim é, mas a diferença entre nós e “eles” é que nós gastamos o dinheiro nas campanhas, enquanto “eles” enfiam uma boa parte em seus próprios bolsos.
Nada comentou sobre o que poderia vir depois — as licitações viciadas para devolver aos financiadores o que haviam investido.
Anos depois, já presidente da República, Fernando Henrique Cardoso receberia no Palácio da Alvorada os sindicalistas que haviam apoiado sua eleição e com os quais negociava mudanças na economia que pudessem trazer, a estes sindicalistas, prestígio em suas bases. Um jogo competentemente combinado, para alegria dos dois lados — salvo quando o governo não podia ceder. Ainda assim, o presidente era gentil e paciente. Até que surgia o “trator” Sérgio Motta.
Numa dessas noites, em que o presidente e seu ministro do Trabalho Paulo Paiva tomavam seu uísque no Alvorada com o presidente da Força Sindical, Luiz Antônio de Medeiros, o sindicalista histórico José Ibrahim e o ainda desconhecido Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, que Medeiros faria seu sucessor, de repente surgiu — sem que tivesse sido convidado — o ministro das Comunicações Sérgio Motta.
— Mas como é possível, Fernando, que vocês estejam aí sem minha presença? — rugiu Serjão.
— Mas é que não queríamos mesmo você aqui — respondeu o presidente jocosamente.
— Mas é bom que você tenha chegado, Serjão — interrompeu Paulinho. — Ouvi dizer que você está comprando deputados para votar a favor da reforma da Previdência, mas vou colocar mil ônibus de trabalhadores na Esplanada para pressionar o Congresso.
— Economize seu dinheiro, rapaz — respondeu Motta — porque a votação está decidida. Já almocei com todo mundo.
Paulinho levou os ônibus, mas os sindicalistas foram derrotados.Isso não os impediu, entretanto, de continuarem apoiando o governo.Quando da campanha pela reeleição, eles apoiaram a emenda do deputado pernambucano Mendonça Filho e todos os atos de apoio a ela. Quando Fernando Henrique se recandidatou, houve um grande ato das centrais Força Sindical e CGT em Brasília. Por uma obra do espírito santo, as centrais não tiveram que desembolsar muito dinheiro pelo fretamento das centenas de ônibus que transportaram os milhares de trabalhadores, nem pelas “quentinhas” que os alimentaram.
Os sindicalistas da Força Sindical apoiaram efusivamente o programa de privatização do governo tucano. Quando tomaram o Sindicato dos Metalúrgicos de Ipatinga das mãos da Central Única dos Trabalhadores — CUT, apoiaram a privatização da Usiminas e se deram bem. Em Volta Redonda, sede da histórica Companhia Siderúrgica Nacional — CSN, também assumiram a direção do sindicato dos metalúrgicos local e como o Clube de Investimento dos Trabalhadores tinha 10% das ações da usina privatizada, ele seria o fiel da balança que daria o controle da empresa — ou não — a um dos grandes investidores que disputavam o comando da empresa.
Paulo Pereira da Silva era então o já influente presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo quando um dia surgiu na sua porta um empresário que ele não conhecia, e que se identificou como Benjamin Steinbruch, do grupo Vicunha — um dos donos da CSN privatizada que disputaria o controle com outros investidores, entre eles obanqueiro e ministro José Eduardo de Andrade Vieira, do Bamerindus.
Steinbruch revelou a Paulinho que Vieira poderia estar “comprando” (com dinheiro) os sindicalistas que controlavam o Clube de Investimento dos Trabalhadores. Paulinho negou — de fato ele ignorava isso — e, sem nada pedir em troca, como sempre foi seu hábito, garantiu que os trabalhadores apoiassem o que considerassem a melhor proposta, que parece ter sido a de Steinbruch, pois ele ganhou o ambicionado controle. Anos depois, Paulinho candidato a prefeito de São Paulo, bateu à porta de Steinbruch e pediu apoio para sua campanha, que não era competitiva, mas pelo menos o iniciava na política.
— Não tenho negócios na prefeitura de São Paulo, por que o ajudaria? — perguntou Steinbruch, com um sorriso irônico.
— Mas eu também não vou ganhar, Benjamin. Só quero a sua ajuda oficial, dentro da lei, para fazer uma boa campanha.
— Eu já disse, Paulinho, não tenho motivos para lhe ajudar NESTA campanha. Por que eu faria isso?
— Porque eu lhe dei a CSN, não foi o bastante? — cobrou Paulinho.
— Ah! Então é isso! Naquela época eu lhe daria isso e muito mais, peão — redarguiu Steinbruch. — Mas isso é passado. Por que não pediu naquela época?
— Porque não era candidato, seu FDP! — resmungou Paulinho.
E desde então a relação dos dois azedou.Porque é assim que funciona. Quando um empresário financia uma campanha eleitoral, ele tanto pode compartilhar o programa do partido daquele candidato — essa hipótese não está totalmente descartada — como terá em mente ter apoio do deputado ou senador para seus propósitos no Congresso ou alguma obra ou negócio no estado ou prefeitura cujos mandatários está financiando.
Mas quando Sérgio Motta, coordenador da campanha de José Serra prefeito, em 1996, precisou de recursos urgentes para pagar outdoors, não foi em alguma empresa privada que o “trator” foi buscar recursos.
Acionou a direção da estatal Telefônica de São Paulo, Telesp, quando o governador era outro tucano, Mário Covas, e esta se prontificou a fazer imediatamente uma campanha publicitária de outdoors em todo o Estado de São Paulo. Mas na cidade de São Paulo a maioria dos cartazes efetivamente colocados não tinha nenhuma imagem de telefone — só a cara do candidato Serra e sua mensagem eleitoral.
Convivi, portanto, com os tucanos e seus dramas. Não são diferentes de qualquer outro drama, quando se trata de chegar ao poder e mantê‑lo. Daí que, apesar de toda a minha simpatia pelo bonachão Fernando Henrique Cardoso, assim como pelo saudoso Sérgio Motta, não tenho — como editor da Geração Editorial — como recusar a publicação deste livro de Palmério Dória. Ele trata, de forma seca e dura, de uma realidade com a qual convivemos e haveremos de conviver enquanto não houver uma reforma política e eleitoral e não encontrarmos um novo sistema de governo que não essa suposta democracia representativa. O menos pior sistema inventado até agora pela humanidade, mas já com sinais de fadiga.É no interior, nos intestinos desse sistema que se movem os partidos, com seus cabos eleitorais, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores e presidentes da República. O mais cândido dos candidatos não consegue livrar‑se dos tais recursos “não contabilizados”, eufemismo para “caixa dois” imortalizada pelo ex‑tesoureiro do PT Delúbio Soares.
Daí que quando terminamos a leitura desse livro fascinante de Palmério Dória, em certo momento, estupidificados, seremos obrigados a nos perguntar: onde estava, no reinado dos tucanos, o ministério público, o procurador geral da República, os Joaquim Barbosa daquele tempo? O chamado “mensalão” — tenha existido ou não — parece coisa de amadores diante do profissionalismo de empresários, burocratas e políticos daquele tempo. Nenhuma CPI. Nenhuma investigação que chegasse ao fim. Nenhuma denúncia capaz de levar a um processo e a uma condenação!
Justiça seja feita: os jornais, as revistas, todos, cumpriram com seu papel de denunciar negociatas, comissões pagas a privatas, desvios, atos de pequenas e gigantescas corrupções. Ler — com os olhos de hoje — o que se denunciou no passado chega a ser, mais do que desconfortável, revoltante. A reprodução de capas de revistas e manchetes de jornais, neste livro, mostram que a imprensa naquele tempo cumpriu com o seu papel. Com destaque para o grande jornalista Fernando Rodrigues, da Folha de S. Paulo, que com a ajuda do “Senhor X” (agora revelado como Narciso Mendes) contou com gravações periciadas a história de como votos foram comprados com dinheiro e financiamentos para ajudar na reeleição.
Finalmente: este livro já estava na gráfica quando um bom amigo do PSDB, extremamente próximo ao presidente Fernando Henrique Cardoso, telefonou‑me, já alertado da publicação, para fazer um apelo — não publicar — e transmitir um aviso, quase uma ameaça: já estavam constituindo advogado para enfrentar a questão.
Infelizmente, é nosso dever tornar público o que interessa aos cidadãos e refletir à luz dos olhos de hoje sobre o que, tornado público no passado, ficou sem as devidas consequências políticas e judiciais.
Muito do que se mostra neste livro nem sequer é novidade: são os mesmos fatos à luz de um novo mundo, um novo Brasil.Ou seja: como o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso admitiu para mim, naquele distante dia em São Francisco, ao fim e ao cabo não existe muita diferença entre “nós e eles” quando o assunto é financiamento de campanhas eleitorais. Por isso — devemos insistir — a necessidade de uma reforma política e do sistema eleitoral.
Quanto ao resto, é História. Pura e simplesmente História.
Luiz Fernando Emediato
EDITOR
APRESENTAÇÃO: VENDE-SE UM PAÍS. COMPRA-SE UMA REELEIÇÃO. E O SENHOR X ROMPE O SILÊNCIO
De 1994 a 2002, o Brasil viveu tempos peculiares. Pagou para vender suas empresas e pagou para reeleger seu presidente. Nunca dantes na história deste país houve coisa igual. As páginas seguintes revelam como isso aconteceu, quem levou vantagem e quem pagou a conta. E por que os brasileiros, ainda hoje, desconhecem os donos das mãos que se enfiaram em seus bolsos naqueles oito anos. Para melhor entendimento da tragédia, antes da história uma historinha:
Imagine que o seu síndico, na reunião de condomínio, proponha a venda daquele galpão lá dos fundos da área comum que, na argumentação dele, só serve para atulhar os condôminos de dívidas, com chamadas extras para conservação e pintura e outras despesas. A assembleia acha razoável. Ele observa, porém, que o negócio deve ser atraente. Então, além do terreno e do prédio, o comprador levará todas as máquinas, móveis, materiais e ferramentas que estiverem no galpão. Mesmo assim, adverte, não há garantia de cativar os interessados. Será preciso tornar a proposta ainda mais tentadora. “Há gente que quer comprar mas não tem o dinheiro”, repara. E sugere: “Sabem o nosso fundo de reserva? E se emprestássemos o valor para que, assim, o comprador possa nos livrar daquela coisa inútil, que apenas consome os nossos recursos?” E a assembleia aprova o negócio.
O terreno e o galpão são passados adiante por R$ 50 mil. Financiados. Algum tempo depois, a propriedade vale quase 60 vezes mais, ou seja, R$ 3 milhões. Valorização de 5.940%. A principal pergunta que ocorre aos condôminos é: terá levado o síndico alguma vantagem na venda ou foi apenas estúpido? Essa é a dúvida. A certeza é que ele jamais será síndico novamente.
O síndico, o condomínio, os condôminos, o terreno e o galpão são fictícios. O que não é de faz de conta é a história. No dia 6 de maio de 1997, sob a gestão do síndico Fernando Henrique Cardoso, o Condomínio Brasil vendeu o controle acionário da Companhia Vale do Rio Doce por US$ 3,3 bilhões. Financiados. Em 2008, diz a consultoria Economática, o valor de mercado da empresa subira quase 60 vezes, ou seja, para US$ 196 bilhões. Valorização de 5.940%.
Antes de levada ao martelo, a Vale do Rio Doce já era a maior exportadora de minério de ferro do planeta. E dona do mapa da mina: uma de suas subsidiárias, a Docegeo, pesquisara, identificara e localizara as riquezas do subsolo brasileiro. Estão nas mãos da Vale vastas reservas de ferro, níquel, manganês, cobre, cobalto entre outros minerais. Senhora também da maior província mineral do mundo, Carajás, seu faturamento, em 2011, bateria nos US$ 30 bilhões. Quer dizer, faturou apenas num exercício mais de nove vezes o preço pela qual foi privatizada. “Compre você também uma empresa pública, um banco, uma ferrovia, uma rodovia, um porto. O governo vende baratíssimo. Ou pode doar”, ironizou Aloysio Biondi em O Brasil Privatizado, simulando um pregão de feirante.
Natural que alguém ria com o patético desses números e comparações. Nada mais justo até porque a tolice anda de braços dados com o ridículo — ainda mais sendo, como essa, uma tolice de primeira magnitude. Mas o que houve de violência bruta e impune nessa e em outras decisões voltadas contra todas as possibilidades que poderiam ser abertas para o Brasil e os brasileiros não é nem um pouco engraçado.
Por que nos anos imediatamente anteriores à venda da Telebras o governo federal despejou R$ 21 bilhões no sistema de que iria se desfazer? Por que, à custa da saúde e da educação, abriu a torneira do dinheiro para a Telebras que iria leiloar? Que síndico administraria seu condomínio desse jeito? Por que entregou a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o Banco Meridional com dinheiro — muito dinheiro — em caixa? Por que pôs em prática um modelo de negócio em que a União vendeu, a preço vil, patrimônio público à prestação?
Ou, como contou Biondi , fornecendo “metade” da “entrada” nos leilões, financiando até a “compra” de “moedas podres” onde os felizes “compradores” ainda têm direito a empréstimos bilionários do BNDES para que realizem os seus “investimentos”?
Quando a razia privatista estendeu‑se aos Estados, governadores do PSDB perpetraram páginas dignas do almanaque Guinness da patetice — ou da esperteza, se a sua leitura for a da maioria. Em São Paulo, Mário Covas vendeu a Companhia Siderúrgica Paulista (Cosipa) por R$ 300 milhões e ficou com uma dívida de R$ 1 milhão e meio.
No Rio, Marcelo Alencar fez pior: contraiu um empréstimo de R$ 3 bilhões e 300 milhões para entregar o Banerj sem dívidas e com metade dos funcionários. E vendeu o banco por R$ 330 milhões, dez vezes menos do que gastou para vendê‑lo!
Por que tantos negócios assim, mesclando bizarria e dilapidação do interesse nacional, também foram feitos? Muitos fatores contribuíram para a obra. No pano de fundo, o mundo unipolar após o colapso da União Soviética, o rolo compressor do neoliberalismo triunfante de Margaret Thatcher e Ronald Reagan e a imposição do pensamento único. Na América Latina, o Brasil foi apenas mais um peão no tabuleiro global a adotar o receituário, primeiro com Fernando Collor, depois com Fernando Henrique. Aqui, porém, o aluno superou de muito o mestre.
Nos oito anos de reinado de Fernando II, com o respaldo maciço da mídia — até porque diretamente interessada no butim — o Brasil foi a leilão. A privatização gravou‑se de tal maneira no imaginário nacional, que se transformou na primeira e inesquecível marca da gestão FHC. A segunda está unida umbilicalmente à primeira. Realizou‑se como instrumento para o mandato seguir servindo à ideia motriz da entrega do patrimônio de gerações e gerações: a introdução da reeleição. Para se entender uma e outra, é preciso saber mais desse protagonista central do período.
Que personagem é esse? Qual a sua formação? Quais as suas escolhas? O que fez para chegar ao poder? E o que fez para nele permanecer por mais quatro anos? Qual o custo disso? A quem serviu? E quem o serve? Quais as suas ligações perigosas? Qual o seu grupo e os seus compromissos? Quem o protege e a quem ele protege?
As respostas a todas essas perguntas têm sido, ao longo dos anos, sonegadas à opinião pública. Cumplicidade aberta ou omissão oculta? A missão do livro que o leitor tem nas mãos é iluminar as muitas zonas sombrias dessa narrativa. Jogar um facho de luz sobre este personagem que desfila como um monarca não coroado pelos salões da plutocracia e pelos editoriais da mídia empresarial.
Da privataria falam muitos entrevistados, revelando o que ocorria atrás do pano quando a pantomima era encenada no palco.Da aprovação da reeleição, fala uma figura essencial na denúncia da trama urdida no Palácio do Planalto. É o Senhor X que, após quase duas décadas, mostra o rosto e rompe o silêncio para contar, em detalhes, como comprovou a compra — R$ 200 mil por voto — de deputados para aprovação da emenda da reeleição.
Mas o primeiro capítulo não trata nem de privatização nem de reeleição. Começa por um episódio que levou a mídia nacional a tecer uma teia de proteção inexpugnável ao seu aliado sob ameaça. Começa pelo humano. Pelo homem que teme um caso fora do casamento capaz de destruir sua carreira política. Começa no momento em que Fernando Henrique Cardoso, casado, três filhos, é informado de que será pai do filho de uma repórter da TV Globo. E flagra sua reação colérica.
CAPÍTULO 1: SENADOR RECEBE UM NERO: QUER BOTAR FOGO NO MUNDO.
Bombeiros acionados sem incêndio à vista — Imagine, fazer álcool de madeira num país com tanta cana — Grupo Serjão dá adeus à pobreza — Última exilada vive na Europa
“… mas este meu sobrinho não é de confiança.” — General Felicíssimo Cardoso, tio de FHC
“Rameira! Ponha‑se daqui para fora!”
Os gritos partem de um dos gabinetes dos senadores, ao lado da agência do Banco do Brasil, nalgum dia do primeiro trimestre de 1991. A voz é masculina e vem acompanhada de impropérios mal distinguidos e o ruído de algum objeto a rolar pelo piso. O jornalista Rubem Azevedo Lima, experiente repórter de política, que na década anterior havia assinado editoriais na página 2 da Folha de S. Paulo sob as iniciais R.A.L., detém‑se no interminável corredor no subsolo do Senado Federal para ouvir melhor. Identifica o gabinete como sendo o do senador por São Paulo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, fundado em 1988 principalmente por dissidentes do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
A porta do gabinete se abre e por ela sai uma jovem colega de profissão de Rubem.“Rameira!” A moça logo reconhece Rubem e para ele se dirige, chorando. Figura paternal, querida e respeitada entre seus pares, Rubem a ampara num abraço. Ela tirita. Sem dizer nada, desembaraça‑se do abraço e retira‑se subindo a escada que leva ao plenário, escada conhecida como “alegria de suplente” — outrora, ao descê-la, algum senador tropeçou, caiu, machucou‑se feio, afastou‑se para tratamento e o suplente assumiu, dando origem ao apelido.
Por que o senador passou tal descompostura na repórter? O que o levou a perder a compostura de acadêmico e parlamentar, a ponto de usar um termo chulo, embora não muito comum em bocas chulas, e dar um pontapé no circulador de ar, origem da barulheira ouvida por Rubem Azevedo Lima? A resposta estava no ventre da repórter. Ela tinha ido comunicar ao senador que estava grávida de um filho dele, a nascer meses depois, em 26 de setembro de 1991.
A jornalista, catarinense, repórter de política Miriam Dutra Schmidt, enquanto subia aqueles degraus para o plenário, humilhada, escorraçada, deve ter decidido, ali, partir para a “produção independente”. E o senador, não menos transtornado, já avaliava os passos a dar, para evitar um escândalo que poderia vir a criar obstáculo de monta em seus projetos políticos. Projetos que incluíam objetivo maior, ainda embrionário como a criança gestada na barriga da moça: a Presidência da República. Era preciso urgente impedir que a caixa‑d’água caísse e o paiol pegasse fogo.
Entra em cena um corpo de bombeiros, formado por Sérgio Motta, José Serra e Alberico Souza Cruz — os dois primeiros, cabeças do “projeto presidencial”; o último, diretor de jornalismo da Rede Globo e futuro padrinho da criança.
Descobriram o caminho das pedras
O primeiro bombeiro citado, homenzarrão, chamado carinhosamente pelo aumentativo Serjão, era naquele momento secretário‑geral do PSDB, “um partido elétrico” segundo Sebastião Nery, pois nasceu na Eletropaulo, “filho de uma grande vontade política e uma imensa gula financeira”, como o jornalista descreve em A Eleição da Reeleição. O ano é 1988. Fazia cinco anos que o futuro núcleo do novo partido vinha gestando um projeto capaz de viabilizar a atividade política do grupo que achava o governador paulista Franco Montoro “mole demais” e seu vice e futuro governador Orestes Quércia, “duro demais”. Nesse grupo estavam ainda, entre outros, o futuro ministro da Educação de FHC, Paulo Renato Souza, e mais um paulista, o futuro governador Mário Covas.
Esse núcleo queria se livrar de Montoro, que lançou o tucano como símbolo do PSDB, e principalmente de Quércia. Era constituído em 1983 por Serjão; FHC, então senador por assumir a vaga de Montoro como seu suplente na eleição de 1978, pelo MDB — Movimento Democrático Brasileiro; e José Serra, secretário do Planejamento do governador Montoro.
O bombeiro Sérgio Motta, gordo e cheio de garra, de sorriso quase sem dentes, parecia o João Bafo de Onça, personagem de Walt Disney. Era amigo de Serra e FHC desde a temporada destes dois no Chile no pós‑1964. No minicorpo de bombeiros montado para evitar uma tragédia no caso Miriam Dutra, ele vai usar seus talentos de produtor de teatro e tesoureiro — exercidos na mocidade, quando pertenceu à AP, Ação Popular, agremiação esquerdista de extração cristã. Em 1963, ele atuou decisivamente para a eleição de Serra como presidente da UNE, União Nacional de Estudantes; e comprovou os talentos na coordenação da campanha de FHC para o Senado em 1978 e para a Prefeitura de São Paulo em 1985.
Sua grande jogada deu‑se ainda em plena ditadura militar, sob o governo Figueiredo (1979‑1985). Com apoio do general Golbery do Couto e Silva, que o jornalista Hélio Fernandes chamava de Golbery do “Colt” e Silva, Serjão cria a Coalbra, Companhia de Álcool do Brasil, para montar usinas de álcool de madeira, sob protesto do vice-presidente. O civil Aureliano Chaves, naquele governo, cuidava justamente de energia. Engenheiro, mineirão, Aureliano achou aquilo um “atentado à ecologia” e “um disparate econômico” — imagine, produzir álcool de madeira num país com tanta terra, tanto canavial e tanta tradição na produção de álcool de cana!
Contando com apoio do ministro de Minas e Energia, Cesar Cals, e do próprio Figueiredo, Serjão importou 30 usinas da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a extinta URSS. Atropelou Aureliano, mas não sua lógica. Pois, das 30 usinas, uma chegou a ser instalada, mas não funcionou — duas décadas depois, continuava em Uberlândia que nem uma carcaça fantasma; as outras 29 nem sequer foram deslocadas dos trapiches dos portos: lá deterioraram e acabaram vendidas como ferro‑velho.
O rombo montou a US$ 250 milhões, dinheiro que daria para instalar rede de esgoto numa cidade com mais de 60 mil domicílios, ou cerca de 250 mil habitantes — uma Juazeiro do Norte.“Nunca mais Sérgio Motta foi pobre nem fraco”, escreveu Nery, “nem ele nem o Grupo Serjão; tinham descoberto o caminho das pedras. Quando Montoro assumiu o governo, ele foi dirigir a poderosa e riquíssima Eletropaulo. E passou a comandar o projeto político, econômico e financeiro da turma.”
Primeiro passo: instalar a moça em lugar melhor
O segundo bombeiro, paulistano da Mooca, nasceu José Chirico Serra mas expurgou de sua biografia o nome do meio. Devia a Serjão a cristalização da amizade com FHC. Naquele momento de crise existencial e ameaça de crise conjugal do futuro presidente, era deputado federal pelo PSDB.
Com o golpe de 1964, José Serra havia se exilado no Chile, onde conheceu a futura mulher, Monica Allende, parente distante do presidente Salvador Allende. Com o novo golpe, em 1973, agora contra Allende — morto no Palacio de La Moneda —, não se sabe como Serra é liberado do Estádio Nacional, onde estão detidas três mil pessoas, muitas delas assassinadas e desaparecidas; e vai para os Estados Unidos, com Monica Allende.
A amizade com FHC e Serjão estreita‑se na volta do exílio, na década de 1970. Serra vai trabalhar no Cebrap, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento — entidade fundada em 1969 com o “ouro de Washington”, conforme veremos no próximo capítulo. A ala liderada por FHC, na qual Serra atuava, foi uma das matrizes ideológicas do PSDB.
Elege‑se duas vezes deputado federal, cargo que ocupa em 1991 quando Miriam Dutra surge nesta história. Sua especialidade, planejamento, consiste agora em planejar o que fazer para evitar danos ao projeto presidencial do grupo. Primeira providência, imediata: instalar a futura mamãe em apartamento melhor e mais bem localizado, na mesma Asa Sul de Brasília; e, a médio prazo, remover o “problema” do Brasil.
Como subir na vida desinventando a tevê e reinventando o rádio
Alberico Souza Cruz, terceiro bombeiro da trupe, era “o dono da notícia”, segundo reportagem de Hamilton Almeida Filho publicada naqueles tempos na revista mensal Interview. Dono da notícia porque dirigia o jornalismo da Rede Globo, o qual, por força do monopólio, em matéria de audiência surrava de 8 a 2 o resto inteirinho da concorrência.
Alberico assumiu a chefia da Editoria Rio da TV Globo, no começo da década de 1980. Vinha da chefia da sucursal da rede em Belo Horizonte, para onde foi guindado após uma passagem pela assessoria de comunicação da Companhia Vale do Rio Doce. Era bom montador de equipes. Foi ele quem indicou boa parte da “plêiade mineira” que enriqueceu a redação do nascente Jornal da Tarde de São Paulo, “irmão caçula” do Estadão.
Assim que chega à chefia da Editoria Rio, convoca reunião geral, com repórteres, câmeras, produtores, editores, para explanar a filosofia que passaria a nortear a todos ali, sentados na redação. Depois de algumas palavras, resumiu:
“Precisamos de muitas notas ao vivo. Muitas notas ao vivo… e… muitas notas ao vivo.”
Nota ao vivo é aquela em que o âncora do programa, ou a âncora, dá a notícia apenas de viva‑voz, sem imagem alguma. Luís Carlos Cabral, já veterano, subeditor, portanto logo abaixo de Alberico, sussurrou a um colega ao lado:
“Pronto! Desinventou a televisão e reinventou o rádio!”
Ele chegaria ao poder no jornalismo da Globo ao fim daquela década, graças a episódio bastante conhecido da categoria e de boa parte do público externo. Trata‑se da altamente polêmica edição do debate final da campanha que, em 1989, escolheria o primeiro presidente depois da ditadura militar eleito pelo voto direto do povo. Collor versus Lula. Na última edição do Jornal Nacional em que ainda se podia falar da disputa pelo Palácio do Planalto, contando‑se em horas o tempo que faltava para o início da votação no segundo turno, foram ao ar os melhores momentos de Collor e os piores de Lula — edição de Alberico e Ronald Carvalho. Isto, acompanhado de repercussão popular favorável a Collor, “pesquisa” feita por telefone com vitória ampla de Collor, mais um editorial francamente elogioso a Collor lido por Alexandre Garcia, ex-assessor de imprensa do “presidente” general Figueiredo.
O serviço valeu a Alberico a ascensão ao topo do jornalismo da Globo, e queda da dupla Armando Nogueira e Alice Maria.
Um casal nas noites de Brasília
Para entender melhor o papel de Alberico no caso Miriam Dutra‑Fernando Henrique, precisamos voltar um pouco no tempo, a 1988. Ano feérico na capital federal. Brasília é o coração do Brasil, enfim. Todos os grupos dos mais variados interesses reunidos, índios, quilombolas, representantes dos trabalhadores de todas as categorias — a geleia geral brasileira a discutir a nova Constituição, depois de uma ditadura militar que sufocou toda uma geração.
Imagine você, nesse clima propício à sensualidade, como num pós-guerra, um senador solto na praça, bonitão e atraente aos 57 anos, e uma repórter de política vinda de Santa Catarina, morena insinuante, 28 anos, que sonha com o estrelato na já bem‑sucedida carreira de jornalista da principal rede de televisão do país. A vocação se evidenciou cedo, quando Miriam era bem mocinha, em fins da década de 1970 — ela é de 1960.
“Fomos amigos. Nós fazíamos um jornal, o Afinal, que ficava nos fundos de um bar e restaurante, o Ceca, Centro Etílico e Cultural Afinal”, lembra Nelson Rolim de Moura, gaúcho havia muitos anos radicado em Florianópolis, dono da Editora Insular.
Um dia, publicaram matéria acusando o governador Jorge Bornhausen de depositar dinheiro na Suíça. Foram processados pela Lei de Segurança Nacional, enquadrados no artigo 33 — “ofender a honra ou a dignidade” do presidente, vice‑presidente, governadores e outras autoridades dos três poderes. “Tivemos de responder ao processo em Curitiba, foi uma coisa desagradável”, recorda Nelson.
Por não ter participado da reportagem, Miriam se livrou da enrascada. Mas, como se verá, futuramente Bornhausen entrará em sua vida.
No Ceca, conta Nelson, havia um palco para apresentações musicais, teatrais, exposições.
“Nesse palco fazíamos semanalmente uma entrevista com uma personalidade e a Miriam me acompanhou em algumas delas. Era uma menina muito esperta e já dava pra notar que teria futuro profissional brilhante. Creio que trabalhava na TV Cultura, uma emissora local, depois foi para a RBS.”
Miriam Dutra Schmidt é filha de um policial militar, o coronel Schmidt, da PM de Santa Catarina, e de Marlene Dutra. O avô materno também foi figura conhecida, o despachante Dutra, no tempo em que Florianópolis tinha porto e navegação marítima comercial regular. A menina estudou em tradicional escola da elite florianopolitana, o Colégio Coração de Jesus, que adotava belos uniformes à moda inglesa.
Uma de suas grandes amigas de Florianópolis, Lucinha, viria a ser a segunda mulher de Jorge Bornhausen. Na RBS, afiliada da Rede Globo, chegou a ser apresentadora da edição regional do TV Mulher, programa feminino pioneiro da década de 1980 baseado em São Paulo, criação da jornalista Rose Nogueira, que lançou Marta Suplicy como comentarista de sexualidade.
Miriam acabou repórter de política em Brasília, aonde chega com sonhos mais altos — na política, na TV Globo, um programa só seu, o estrelato. Nesse agitado mundo, fará novas amizades.
Não demora, e os jornalistas notam a regularidade com que Miriam Dutra e Fernando Henrique passam a ser vistos juntos em restaurantes, reuniões sociais, cerimônias públicas, cada vez mais. A jornalista fez uma amiga entre os políticos que entrevistava, a deputada federal Rita Camata, do PMDB do Espírito Santo, mulher do senador Gerson Camata, do mesmo partido. As duas trocam confidências.
No ano da eleição presidencial, a primeira depois da ditadura, Alberico circulará com desenvoltura na capital da República, funcionando como “linha auxiliar” da candidatura Collor, ostensivamente apoiada pela família Marinho. Ao mesmo tempo, não há no Jornal figura pública mais presente, mais ouvida sobre todo tipo de questão político‑econômico‑administrativa, do que Rita Camata — e esta, cada vez mais solidária com os altos e baixos do romance da amiga.
Uma colega de trabalho, a gaúcha Anna Terra, lembra‑se de que certa vez estranhou uma ausência de dez dias de Miriam.
“Estava em Nova Iorque graças a uma bolsa”, explicou Miriam ao voltar.
Ao comentar com uma colega de redação, passou por ingênua. A amiga sorriu:
“Você é bem bobinha, hein, Anna? Ela foi encontrar o Fernando Henrique.
Última exilada vive na Europa para não estragar projeto do ex-amado
Collor cai, entra Itamar Franco, que dá uma reformulada no serviço secreto. Cria a Subsecretaria de Inteligência, SSI, onde atuam ex-integrantes do Serviço Nacional de Informações, o SNI. E a SSI passará a cuidar com desvelo de “seu” candidato à sucessão de Itamar.
Em abril de 1994, quando FHC deve deixar o cargo de ministro da Fazenda de Itamar, para atender à regra de se desincompatibilizar de cargo público seis meses antes das eleições, sua situação não é confortável. As pesquisas o mostram 20 pontos atrás de Lula. E ele ainda depende do sucesso do Plano Real — tocado por, entre outros, André Lara Resende, Pérsio Arida e Winston Fritsch, criando mais um problema de paternidade para FHC. Itamar resolve a questão falsificando a “certidão de nascimento” do real. As primeiras notas circularão a 1º de julho de 1994 trazendo a assinatura do presidente do Banco Central, Pedro Malan, e a assinatura de seu ex‑chefe, Fernando Henrique Cardoso, que não era mais ministro fazia três meses. Mais uma vez, FHC assume o que não é dele: em 1985, sentou na cadeira de prefeito um dia antes de ser derrotado por Jânio Quadros; agora, assina obra feita por outros.
Embora atrás nas pesquisas, FHC conta com alguns trunfos, além do impacto positivo da entrada em cena das notas e moedas de real. Tem o apoio do PFL, forte nos grotões com seus carcomidos restos da Arena, a Aliança Renovadora Nacional, partido de sustentação da ditadura; dinheiro grosso dos empresários e banqueiros; e a simpatia da maioria dos militares, inclusive do serviço secreto. Não é pouco. E Itamar ainda vai dar uma forcinha para Lula sofrer uma bela despencada nas pesquisas, como veremos no Capítulo 6.
Porém, a SSI, monitorando possíveis problemas de percurso, detecta algo preocupante: a história que circula em todas as rodas de Brasília, a do filho de Fernando Henrique com uma repórter da TV Globo.
A SSI classifica o caso como “explosivo” e decide agir para impedir a imprensa de divulgar aquilo. Passa a procurar jornalistas para sentir o clima. De fato, algumas redações se movimentam para investigar o caso, porém mais para ter algo “na gaveta” caso algum concorrente resolva publicar a história — a mídia se calará por seis anos, até que, em abril de 2000, a revista mensal Caros Amigos comemorará seu terceiro aniversário dando na capa a manchete “Por que a imprensa esconde o filho de 8 anos de FHC com a jornalista da Globo?” Chamava para reportagem de seis páginas, “Um fato jornalístico”, assinada por Palmério Dória, João Rocha (de Barcelona), Marina Amaral, Mylton Severiano, José Arbex Jr. e Sérgio de Souza — que você pode ler no Capítulo 32, A reportagem que mexeu com a mídia brasileira.
Não precisavam se preocupar tanto os homens da SSI. A Globo removerá o problema com criança e tudo. Transferirá Miriam Dutra e seu filho Tomás para Lisboa, onde — ó sorte! — breve encontrará sua amiga Lucinha, segunda mulher de Jorge Bornhausen. No ano seguinte, Bornhausen chegaria à antiga metrópole colonial como embaixador do Brasil em Portugal. Ali, a julgar por outro episódio narrado pela gaúcha Anna Terra, Miriam não precisará “pegar no pesado”, como também podemos avalizar por terceiros testemunhos. Deu‑se que, mal Miriam chega a Lisboa, cai um avião na Europa e o núcleo de matérias especiais da Globo, chefiado por Narciso Kalili, pede‑lhe que cubra. Miriam respondeu com aspereza:
“Estou chegando e já tenho de trabalhar?”
Na hora exata se deu sua transferência. Miriam havia recém‑entrado em contato com um editor de São Paulo para negociar livro do tipo “Meu caso com Fernando Henrique”. Dê asas à imaginação, você que nos lê. Tal livro sepultaria o projeto presidencial de FHC, adeus privatizações, não existiria o neologismo “privataria”, Lula seria eleito não em 2002, mas oito anos antes…
Miriam foi despachada para uma espécie de exílio em Barcelona, na Espanha que, na feitura deste livro, já durava 18 anos. Mas nunca mais sairia da vida de Fernando Henrique.