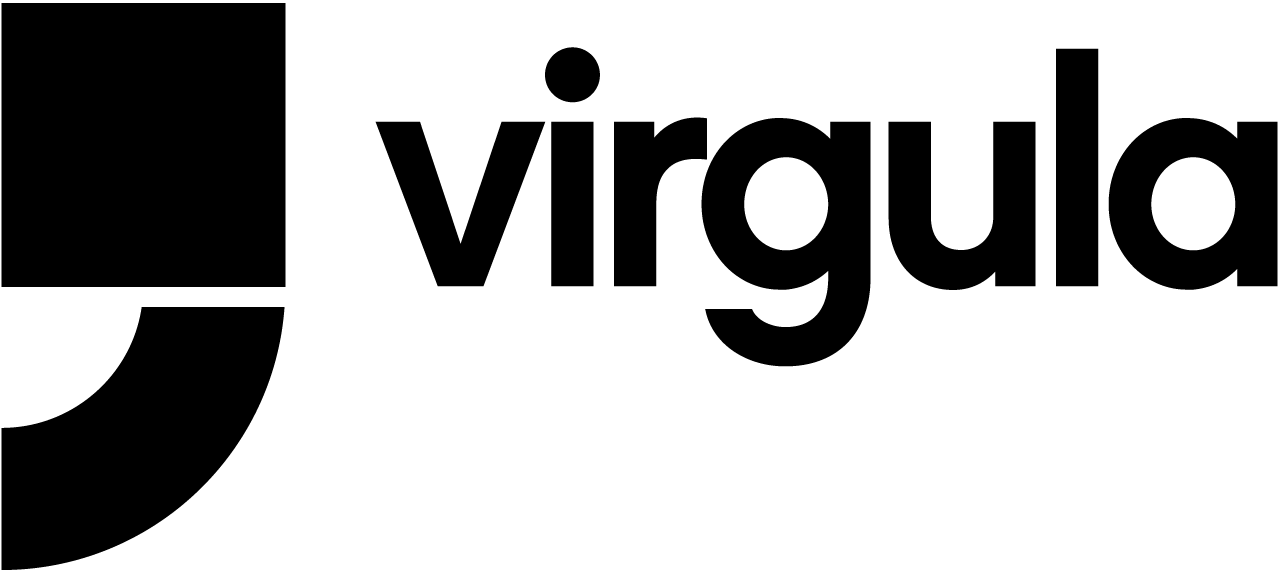Hilton Lacerda, diretor de Tatuagem, vencedor do prêmio Kikito de melhor filme em Gramado, no último sábado (17), acredita que há algo importante acontecendo no cinema brasileiro atualmente. No entanto, o fervilhamento criativo passa ao largo das grandes produções nacionais. Ele está, de acordo com o cineasta, nos filmes que fogem da “máquina mercantil” do entretenimento.
“Esse cinema comercial brasileiro que está sendo feito hoje é um cinema em crise, porque ele está muito pautado por uma coisa que cinematograficamente interessa muito pouco”, disse Lacerda, em entrevista ao Virgula Diversão.
Ele acrescenta: “Acho que, narrativamente, os filmes feitos em Pernambuco, em Minas Gerais e no Ceará têm sido incríveis. E mesmo os filmes do Rio de Janeiro e de São Paulo que fogem de um esquema produtivo com uma linha mais direcionada [são incríveis]. Nos últimos anos, você tem um pessoal fazendo o cinema mais instigante e mais plural que a gente já teve no Brasil”.
O própro cineasta é um dos responsáveis por apresentar aos brasileiros algumas importantes provocações cinematográficas recentes. Ele fez o texto de Amarelo Manga (2002), A Festa da Menina Morta (2008), Febre do Rato (2011) e escreveu e dirigiu Cartola – Música para os Olhos (2007).
Em Tatuagem, contextualizado no fim dos anos 70, em Recife, Lacerda conta a história de Clécio Wanderley (Irandhir Santos), agitador cultural e líder do grupo teatral Chão de Estrelas. Em um período em que a ditadura militar se esgota politicamente, a trupe realiza shows provocantes e cheios de nudez. Clécio, apaixonado por um jovem soldado, o apresenta a esse universo.
Leia, a seguir, a entrevista com Hilton Lacerda:
Ao receber o Kikito de melhor filme, em seu discurso, você disse que Tatuagem é um filme feito a partir das suas experiências e que, apesar de se passar em 1978, fala de um mundo “que está acontecendo”. Que reflexões sobre os dias atuais o filme pretende trazer?
Quando falei da minha vida, me referi às experiências que vivi de perto. Em 78, eu tinha 13 anos e foi quando comecei a ter um olhar mais autônomo em relação à vida. E todos aqueles personagens e toda a narrativa do filme estão imbuídos dessa experiência. Ao me debruçar sobre 78, não lancei um olhar saudosista, no sentido de só mostrar pessoas felizes. Naquele momento, rolava uma expectativa das coisas acontecerem, das coisas mudarem, das coisas darem certo. E depois, nos anos 80, veio uma crise muito pesada, um retrocesso, que se acentuou um pouco nos anos 90 e chegou nos dias de hoje. Dentro da narrativa, existe uma ideia de construção de futuro, e isso é uma tentativa de fazer uma reflexão sobre o presente, sobre como a gente chegou aqui.
Em Tatuagem, por meio de Clécio, você retoma um protagonista libertário e de certa forma romântico, como o poeta Zizo de Febre do Rato. Por que esse interesse por esse tipo de personagem em seus roteiros?
Esse tipo de personagem me interessa bastante. Antes do romantismo, o que me interessa, de fato, é a reflexão de quem está à margem de uma história oficial. O Clécio e o teatro Chão de Estrelas não estão fazendo uma reflexão para fazer graça para os outros. Eles querem fazer arte.
Tatuagem rendeu o Kikito de melhor ator para Irandhir Santos. Por que ele era o homem certo para viver seu protagonista?
Quando eu estava escrevendo o roteiro, pensava na pessoa física Irandhir como o personagem. Não foi escrito para ele, porque ele nem sabia que eu estava fazendo. Mas quando a primeira versão do roteiro ficou pronta, eu o convidei. Fiquei muito feliz de ele ter aceitado. Isso porque existe uma disponibilidade física muito grande em Irandhir para se adequar a muitas situações. É um ator muito flexível. Ele pode fazer de uma pessoa muito violenta a uma pessoa muito doce. Acho que é um dos atores mais interessantes de cinema que surgiram nos últimos tempos. A contribuição que ele trouxe foi muito importante. A gente trabalhou com um elenco grande, que era o núcleo do teatro, com um monte de atores que nunca fizeram cinema e um monte de artistas, desde bailarinos a fotógrafos. Ele foi a referência máxima para esse grupo e assumiu a liderança.
Assuntos muito presentes em seus roteiros, incluindo Tatuagem, são o sexo e o corpo. Para você, a forma com que seus personagens lidam com essas questões é uma afirmação política?
Para mim, obviamente que é. Mas fico muito surpreso porque as discussões às vezes caem numa questão mais rasa. Não sou ingênuo e sei que algumas pessoas poderiam ficar martelando em cima dessa moeda. Mas a nudez é uma atitude política porque vem com essa lembrança afetiva do final dos anos 70, quando mostrar o corpo não era uma coisa fora de convenção, fazia parte da pauta do dia. Ainda assim, o brasileiro tinha medo de se retratar dessa forma. Uma coisa que eu ouvia muito quando criança era que o cinema brasileiro era apelativo porque tinha nudez e palavrão. Essa questão do corpo é muito proposital no filme. É um momento em que todos estão preparados para se despir e ir à luta.
Vendo coisas como o barulho criado em torno do selinho do jogador Émerson Sheik em um amigo e as declarações da saltadora Yelena Isinbayeva a favor da lei antigay russa, você acha que o moralismo está vencendo hoje?
Acho que talvez o moralismo seja muito forte porque as pessoas estão colocando em evidência essas questões. O estado russo é extremamente conservador. Como hoje há uma afinidade muito grande com o Ocidente, no sentido político, o tipo de discurso que ele oferece é muito triste e perigoso. É absurdo ver a Isinbayeva afirmar que foi mal interpretada, porque não foi a primeira vez que ela disse isso. Tenho a impressão de que toda a civilidade que temos construído é jogada fora; você fica refém do que seria uma maioria moral que consegue te vigiar. A postura de Sheik, de dar um selinho em um amigo, é uma manifestação política, corajosa e sensacional. Não interessa se ele não é homossexual. Nos anos 80, selinhos eram comuns na TV em shows de música brasileira, com o Cauby Peixoto, o Chico Buarque, o Caetano Veloso… E isso nunca foi uma questão.
Você se coloca contra o rótulo de cinema pernambucano, mas hoje existe uma produção de cinema muito interessante acontecendo no estado, com filmes como Som ao Redor e o próprio Febre do Rato. O que torna Pernambuco um fornecedor de boas histórias?
O rótulo de cinema pernambucano me constrange porque parece que é um tema repetido ou uma fórmula, quando na verdade as maneiras de fazer cinema em Pernambuco são muito diferentes entre si. O que eu mais gosto nessa cena cinematográfica de Pernambuco é como o eixo da discussão é diferente. Se você vê como os autores e diretores refletem sobre o mundo, existe uma pluralidade grande. Em Gramado, discutindo com alguns críticos, um deles me disse que achava que havia um ponto em comum entre esses filmes. Talvez seja o ponto de observação. O cinema de Pernambuco tem um olhar de conflito e um embate de classes acentuado. Talvez isso seja, entre outras coisas, uma coisa muito direcional desse cinema, pelo fato de a sociedade pernambucana ser muito complexa.
O cinema brasileiro tem contado boas histórias?
Acho que, narrativamente, os filmes feitos em Pernambuco, em Minas Gerais e no Ceará têm sido incríveis. E mesmo os filmes do Rio de Janeiro e de São Paulo que fogem de um esquema produtivo com uma linha mais direcionada [são incríveis]. Nos últimos anos, você tem um pessoal fazendo o cinema mais instigante e mais plural que a gente já teve no Brasil, mesmo levando em consideração o Cinema Novo, que, para mim, é a corrente mais importante que a gente teve aqui. Em quantidade de pessoas digladiando ideias, acho que nunca foi tão interessante. Mas eu acho muito bobo as pessoas ficarem discutindo o que é filme comercial e o que é filme de autor. Tem muito mais questões interessantes para serem discutidas.
Você se interessa por blockbusters, como cineasta?
Eu não tenho nada contra as produções grandes. Há algumas que adoro. O que eu critico é a imposição de você ter de consumir aquilo de qualquer modo. O meu mergulho no cinema mais criativo e marginal aconteceu por convicções. Mas minha escola foi o cinema clássico. Eu sempre tive um olhar muito crítico em relação a filmes. Nos anos 80, não tinha universidade de cinema em Recife. A gente era autoditada e fazia leituras a partir de discussões. Não tinha vídeo cassete. Os cineclubes e as mostras eram muito importantes nesse sentido. O que é pernicioso do blockbuster não é o conteúdo, mas a imposição de você ser dominado por isso o tempo inteiro. Há uma diferença entre você discutir o filme e discutir a máquina mercantil que ele se tornou. Esse cinema comercial brasileiro que está sendo feito hoje é um cinema em crise, porque ele está muito pautado por uma coisa que cinematograficamente interessa muito pouco. De blockbusters brasileiros, são poucos os que me comoveram.
O que pensa da Lei Rouanet e de outras leis de incentivo à cultura no Brasil? Elas permitem uma produção plural?
Há um momento em que essas leis de incentivo precisam ser revigoradas. Talvez já passou muito para revigorar algumas dessas leis porque toda vez que se pensava em mexer, achava-se que poderia piorar. Mas os modelos podem se esgotar e por isso têm de ser remodelados e repensados. O que acho mais grave é que você está começando a lidar com um estado que tem uma quantidade de leis para produção interessante, mas não tem política de visibilidade. Você fica trancafiado no final do processo produtivo e criativo e não tem o que mais interessa, que é o olhar do outro. Eu sempre digo que o brasileiro tem de ver filme brasileiro, nem que seja para não gostar.