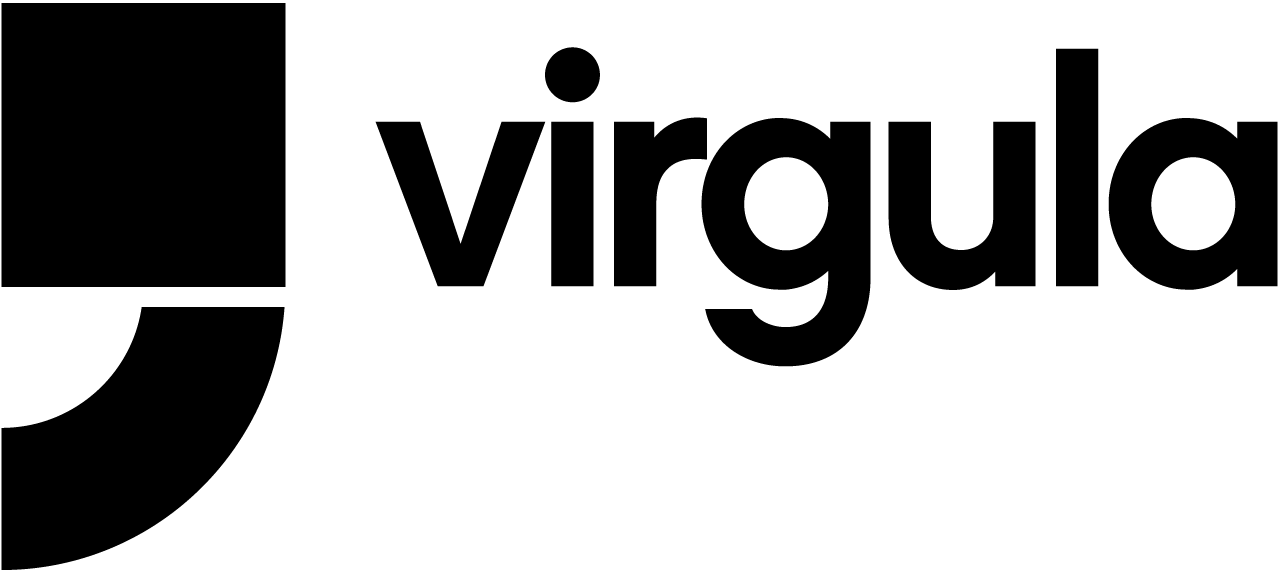Gui Boratto é uma unanimidade hoje. Nem sempre, porém, o produtor brasileiro com maior moral no meio eletrônico internacional encontrou as portas abertas. “Eu era meio o patinho feio do techno. Quando eu lancei o Chromophobia (2007), eu estava muito mais lento que o resto do techno em geral, essa coisa mais cheia, mais pesada e mais rápida”, afirma o paulistano, que faz a festa de lançamento do seu novo álbum Abaporu nesta quinta (9), na D-Edge, em São Paulo.
Ouça o disco no Spotfy
“Eu não vou citar nome, mas quando chegou o single da (gravadora) Kompakt, Arquipélago, fui levar para vários DJs brasileiros e ninguém deu muito bola, ninguém me ajudou. Só depois que a música arrepiou lá fora, com todos os gringos tocando, é que esses brasileiros começaram a tocar”, diz o multi-instrumentista ao Virgula Música.
Hoje, ele quer mudar esse jogo e ajudar a construir uma cena de produtores brasileiros. Para isso, criou o selo D.O.C., que já lançou trabalhos de novos artistas como Elekfantz e Shadow Movement. “Esse negócio de não dar força, de invejinha, é o que não deixa a cena do Brasil mais unida. Falta um ajudar o outro em primeiro lugar. E não é bom samaritanismo não, é ajudar quem é competente, quem é talentoso, tem que ter respeito e ajuda, não é ajudar porque o cara é gente boa.”
Gui, concorda com a tese do também produtor Dudu Marote, que defende não existir uma cena eletrônica no Brasil, apenas artistas isolados. “Acho que o primeiro ponto que faz com que isso fique dissipado, fique cada um por si, é porque a gente não tem, em primeiro lugar, um selo de música eletrônica em que você constrói aquela família de artistas e, obviamente isso vai gerar eventos, você faz uma compilação. O que acontece no Brasil, por falta de selos, sim, você tem artistas isolados, Elefankz, Shadow Moviment, que são dois moleques de Curitiba, o Clickbox, assinados pela Minus, que já vem fazendo som eletrônico há muito tempo, DaDa Atack. Enfim, você tem artistas que cada um tem a sua vida. Fulano toca lá fora, volta, lança um EP ali. Mas não tem aquela continuidade, aquele diálogo. Isso, tomara que o meu selo consiga unir um pouco essa cena largada que acontece aqui”, dispara.
Ele lembra no entanto que a geração anterior da música eletrônica brasileira teve atuação decisiva para pavimentar o caminho. “Marky, Renato Coen, Mau Mau abriram portas. Mas tem muito brasileiro hoje que paga pau pra gringo. Isso é uma bobagem, que hoje tem tanta gente boa, de extrema qualidade, muito melhor que produtor alemão, inglês, lugares em que os caras respiram música eletrônica há quatro décadas. Isso aí, a gente que é brasileiro tem que levantar bandeira, dar valor, prestigiar. O nosso país sempre foi referência lá atrás de música boa, do samba de Noel Rosa, a bossa nova e porque não a música eletrônica. A gente tem excelentes DJs, como Marky, que para mim é o Jimi Hendrix dos toca-discos, mas produtores também”, afirma.

Vanguarda modernista do século 20 inspira versão atualizada de Gui para a antropofagia
Lançado oficialmente no dia 27, Abaporu, homenageia o modernismo brasileiro. “É um colcha de retalhos de referências de tudo quanto é lado. Eu acho que eu estava fazendo uma coisa meio parecida com o que a Tarsila (do Amaral) fez nos anos 20. Eu como arquiteto, estudei muito o modernismo brasileiro, não só na pintura, mas a arquitetuta brasileira. Quando eu me vi fazendo uma coisa parecida, quis fazer uma homenagem. Eu coloquei no Abapuru um punhado de referências não só de coisas que eu ouvi nesses três anos, mas da minha vida toda, até lugares que você vai e guarda ali alguma coisa que é difícil explicar em palavras, mas que você exprime na sua música. Qualquer forma de arte é muito reflexo do seu estado de espírito, de tudo que você viu na vida”, argumenta.
O produtor conta com uma discografia formada por Chromophobia (2007), Take My Breath Away (2009), III (2011) e Abaporu, todos lançados pela alemã Kompakt. Olhando para trás, Gui vê uma ligação entre seu primeiro álbum e o novo. “O Chromophobia eu considero o meu álbum mais ingênuo, o Take my Beath Away é meio que uma extensão um pouco mais feliz, o terceiro é minha veio rock and roll e é um disco obscuro mesmo e o Abapuru eu acho que eu demorei oito anos para estar mais ou menos com mesmo estado de espírito que eu estava no Cromophobia. Eu acho que são discos muito parecidos”, diz.
 Gui Boratto avisa que casou simplicidade e complexidade para fazer um disco feliz
Gui Boratto avisa que casou simplicidade e complexidade para fazer um disco feliz
“Feliz” e “solar” são as palavras usadas por ele para descrever o novo trabalho. “Ele é despretencioso no sentido de que a parte técnica não é aquela coisa mirabolante, aquela coisa datada, mas é um álbum que tem canções, com melodias que você cantarola. E eu te digo que é meu álbum mais completo. Ele é repleto de vocais e ele tem instrumentos, tem baixo, tem guitarra, piano, muita programação de analógico com coisa digital”, afirma, antes de ressalar: “Apesar da complexidade é um álbum simples, fácil de digerir, não é um álbum que você entende depois de dez escutadas. O Abapuru é um álbum que você assimila de primeira, ele é um álbum bem direto, as melodias são bem simples”, define.
Em meio a uma nova onda de popularização da eletrônica, Gui mostra não ter medo do pop. “Eu acho a coisa mais legal do mundo você tocar em um festival onde tem banda pop, de rock, eletrônico, diversas tribos se misturam, eu acho legal, enriquece. É gostoso você tocar em um lugar e o público é superdiversificado. Claro que tudo que é radical para mais ou para menos não é legal, como tudo na vida”, afirma.
Mesmo a EDM, maneira como os americanos chamam a eletrônica mais comercial, é poupada por Gui. “O pessoal até vem me perguntar de EDM, como é que você vê? O pop superengendrado na música eletrônica. Gente, eu acho superlegal misturar estilo, eu acho que as pessoas gostam de cantar, de cantarolar. Minhas músicas sempre tiveram um apelo, até uma estrutura pop, a maioria delas são instrumentais, mas você enxerga claramente uma estrutura de música pop, bem radiofônica, com as partes bem estruturadas, definidas. A mistura de tudo isso aí, eu acho muito legal”, relativiza.
Essa aproximação com o pop também se revela quando a reportagem pergunta ao produtor com quem ele gostaria de trabalgar de fora do mundo da eletrônica. “Gostaria de trabalhar, sei lá, com o Martin Gore, do Depeche Mode. É uma banda que eu não considero muito mais rock que eletrônica. Eles foram mais eletrônica no passado, mas é um cara que eu admiro muito, que eu tenho que admitir que eu sou fã mesmo. E teria vergonha de pedir um autógrafo de tanto que eu respeito e admiro, sabe aquela coisa?”, revela. “Só não faço mais música com vocal porque eu levo muito tempo para escrever letra. Meu negócio é música, harmonia e melodia. Eu sou muito complicado, levo uma semana para escrever quatro, oito linhas”, completa.
Se você acha que o sucesso de Gui veio de mão beijada, no entanto, não foi assim que ele chegou lá. “Eu não paro de trabalhar. O Dudu Marote me falou uma vez, Gui, eu e você temos a doença de ter que fazer música todos os dias. Eu tenho meio isso mesmo”, admite.
A equação de talento e esforço não poderia dar em outra coisa. Hoje, ninguém lembra mais que um dia Gui foi um patinho feio e ele segue na luta para dar sua contribuição: fazer com que a antropogafia do século 21 ecoe pelo mundo a questão modernista: tupy or not tupy?