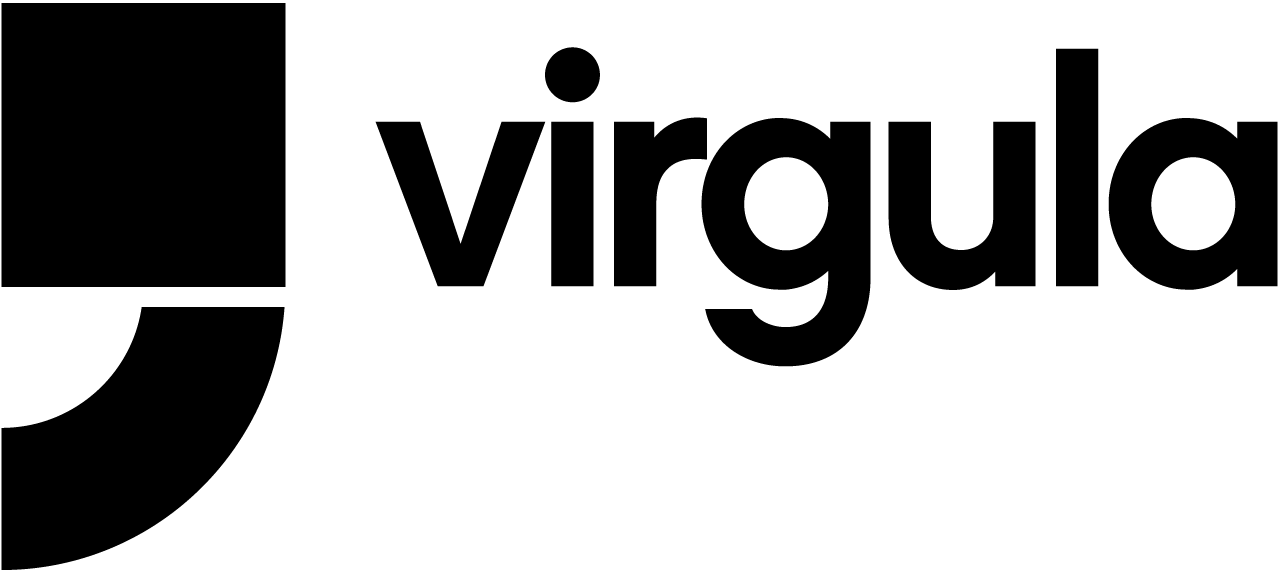O festival Coachella tem por residência a cidade de Indio, que fica a uma estilingada de Los Angeles. São 250km de uma estrada absolutamente monótona e fluida, pontuada por restaurantes de tacos e hambúrgueres, vencida sem o menor esforço em algo como 3 horas.
Uma vez em Indio o primeiro problema a se enfrentar é a ansiedade. O que é capaz de tirar seu sono não é exatamente o rodízio-de-beira-de-estrada de algumas das bandas mais bacanas do planeta, nem as 8 horas que você terá de enfrentar em pé no meio do deserto ou mesmo aquele show dos seus sonhos.
O que te tira o sono de verdade é que você perderá shows incríveis por conta dos horários simultâneos de atrações em palcos diferentes. Ou seja, o Coachella exige antes de mais nada um juízo contínuo e uma logística digna de supermercado, até para ingerir líquidos: você não pode se desidratar por conta do sol inclemente, tampouco se afogar ingerindo água para combater a sede e ser obrigado a deixar de ver seus shows prediletos por ter de se deslocar até os nauseabundos banheiros químicos do festival, então precisa tomar água exatamente na mesma proporção em que ela se evapora de seu corpo.
Se até para ingerir líquidos é necessária uma organização militar para aproveitar o Coachella, então relógios, alarmes e Iphones com o aplicativo do festival são essenciais para extrair o máximo da experiência– por mais que pareça algo absolutamente supérfluo e geek, tais dispositivos realmente ajudam a coordenar o que você assistirá. Sem falar que amenizam a sensação de que ninguém te dirá que assistiu o show mais incrível do planeta enquanto você marcava bobeira na barraca da pizza em pedaços.
Soldadinhos anfetaminados
O caminho até o festival, que dista 5 km do hotel, durou exatamente o tempo transcorrido entre Los Angeles e a cidade que o hospeda: 3 horas. Uma fila interminável de carros que tinham suas carrocerias riscadas a giz com o nome das atrações que representam a bandeira dos seus ocupantes, apinhados de adolescentes de drinques em punho e que queimaram a largada ingerindo tudo que poderia ser controlado na rigorosa inspeção da entrada, fazendo com que muitos saltassem dos mesmos e marchassem anfetaminados, como soldadinhos de chumbo, pela beira da estrada em direção ao festival. Muitos ainda imploravam por entradas, esgotadas há tempos, com cartazes no peito rabiscados com “we need tickets please”, na esperança de alguém salvá-los do inferno do deserto e de saber que 70 mil pessoas estão se divertindo sem a sua companhia.
Uma vez transcorrida a via crucis, o festival: Coachella parece um evento como o Skol Beats, apenas mais anabolizado, de organização às vezes um tanto precária, que acontece em um campo de pólo um tanto parecido com o Helvetia.
O que mais chama a atenção no festival é que a diversidade de público, se ela existe, passou longe dali: o Coachella é montado para a classe média branca norte-americana, que tem entre 15 e vinte e poucos anos. Isso posto, entre a enorme quantidade de pessoas que se encontravam no festival era praticamente impossível encontrar negros, latinos, orientais ou mesmo gays entre a audiência – mesmo pessoas acima de 30 anos eram raras ali, e as poucas presentes pareciam fazer parte da organização do festival.
Pulseirinha para beber
Uma vez dentro do festival, beber requer uma segunda pulseira, que lhe é dada depois de comprovarem que se passou por pelo menos 21 aniversários, e as bebidas ficam restritas a áreas especiais, cercadinhos que te impedem de ver o show e se embriagar ao mesmo tempo. No Coachella ou se bebe ou se assiste a um show. Não existe maneira de conciliar as duas operações, o que deve limitar para muitos a experiência de se ir a uma festa.
Por um outro lado, a programação contempla a todos os paladares: a não ser que você seja um ardoroso fã de música sertaneja ou clássica, seu gosto musical será contemplado por alguma das atrações do festival, que vão do rock à musica negra, do eletrônico à folk, e todas os híbridos entre estes estilos que você possa imaginar ou que sequer suspeitava que existiam.
E, se o que te interessa é a festa e não a programação, no problema: tendas com música eletrônica de quinta estarão ali para alimentar seus ouvidos de junk music. A despeito dos eventuais perrengues, e eles existem, o Coachella é um rodízio para os esfomeados por boa música, uma espécie de intensivão de 3 dias que te fará colocar os dedos no pulso da melhor programação musical disponível no mundo hoje.
Mais gadgets que um mariner
Envergando mais gadgets do que um mariner para não perder nada de melhor do que o festival me ofereceria, a minha estreia no Coachella se deu por meio do DB hipnótico do Proxy, seguidos pela dupla Aeroplane, que fez um set bastante fanfarrão com todas as vertentes possíveis de house music: Chicago, piano house, acid, todas as cores da house foram centrifugadas pelo mixer dos Aeroplanes e oferecidas a uma audiência ainda morna, mas que respondeu com entusiasmo quando os belgas apelaram para hits. Set divertido, mas eu não tinha ido ao Coachella para ouvir o que ouviria na pista de qualquer clube de programação no mundo, então hora de seguir em frente e ver o que os ingleses do The Specials tinham a me apresentar.
Confesso que não sou um grande apreciador de rock, mas os ingleses do The Specials me pegaram pelo intestino: renovadores da era punk através do ska e do rocksteady, o The Specials encheu o pista principal do Coachella e fizeram a audiência saltar envergando o figurino mais elegante de todo o festival: camisetas Fred Perry e terninhos estilo mod complementaram o que foi sem dúvida uma das melhores apresentações do primeiro dia do festival.
Gil Scott-Heron: finesse
No entanto, a organização é britânica quanto ao horário das apresentações, e estas raramente aconteciam com atraso. No Coachella não se vê um show inteiro, mas pedaços, metades ou ¾ de shows. Hora de ver o que para mim seria um dos pontos altos do primeiro dia: Gil Scott-Heron.
A apresentação de Gil separou o joio do trigo, os homens dos meninos. Com o sol caindo atrás de si entre as montanhas do deserto de Palm Springs, a locação não poderia ser mais perfeita para a apresentação daquele que talvez seja um dos maiores ícones da música negra e militante dos anos 1970, que imortalizou o slogan “a revolução não será televisionada”.
Gil entrou no palco com dificuldade por conta de seus muitos anos, mancando um tanto e fazendo piada com todos à sua volta: do técnico de som (a quem disse que queria travar amizade, uma vez que é péssima ideia não o artista não cair nas graças do técnico de som antes de sua apresentação) à audiência, a quem disse que se não sabiam o que estava fazendo ali não lhe importava, uma vez que não sabiam o que estavam perdendo, mas alertou aos ignorantes que ele já havia sido sampleado inúmeras vezes.
Ele apresentou um show irretocável, piano eletrônico (“no meu tempo os pianos eram feitos de madeira”), voz puída e que parecia ter descansado por décadas em tonéis de carvalho, capazes de timbres inacreditáveis, harmônica e metais. Um show que parece ter sido um esforço de politicamente correto por parte da curadoria do festival, castigado pelo barulho das tendas ao lado (quando comparado à finesse servida por Gil) e para uma audiência branca e um tanto perdida, mas que valeu cada quilômetro rodado entre o Brasil e Indio.
Grizzly Bear iniciou os trabalhos para uma tenda transbordando de carne humana. O indie-rock-cabeçóide da banda deve ser bastantepopular por estes lados, mas não me tocou para nada, parecida que era com a apresentação de uma turma de recém-graduados do curso de matemática avançada do MIT. Hora de correr para o palco principal e guardar lugar para a apresentação mais esperada da noite – pelo menos para o branquelo aqui – o show do disco novo dos ultra-hypados LCD Soundsystem.
LCD e sua disco nua
Ainda não recuperado do enlevo estético proporcionado por Gil Scott-Heron, me dirigi ao palco principal, quando ondas de ácido se batiam contra as paredes de meu estômago, tamanha a minha ansiedade: James Murphy, envergando um summer branco (no melhor estilo Sr. Rourke e a sua Ilha da Fantasia), e seu LCD Soundsystem. No palco de James, nada mais do que um globo de espelho de pelo menos quatro metros de diâmetro, símbolo máximo da disco music. Abaixo dele, nada. Nenhuma cenografia, apenas a banda.
Até as luzes do show foram economizadas a pedido de James, e com essa economia toda o LCD parecia mandar uma mensagem sobre a sua sonoridade, como se a disco music para servir de ingrediente para as composições do LCD precisasse antes passar por uma séria intervenção cosmética, descarnada quase até seus ossos, restando apenas suas linhas de baixo, alguns timbres e algo de seus característicos vocais.
James parecia um tanto nervoso e o show definitivamente não foi um dos melhores que vi da banda – e vi todas as apresentações que o LCD fez no Brasil, desde o primeiro Sonar em São Paulo. Permeando composições do disco novo recém-disponibilizado na Internet com seus hits, James falou muito durante o show, ironizou o fato de ter de abrir para o “fucking Jay-Z” e com isso acabou penalizando a apresentação, que por conta das restrições de horário do festival teve pelo menos duas músicas cortadas para não atrasar todo o line-up.
Ainda assim, a entrada de Gavin Russon na formação da banda se fez perceber: Gavin, um virtuoso tecladista, se colocou atrás do que parecia ser a cabine de comandante de algum avião Concorde desativado e acrescentou à receita do LCD timbres do synthpop oitentista, algo da simplicidade do 8-bit e pós-disco, deixando as composições clássicas da banda menos óbvias e mais interessantes aos fãs.
Em dado momento, James pediu para que todas as luzes do palco fossem apagadas, justificando que se ele não conseguia ver a audiência, ora, que a audiência também não o enxergasse. Apesar de tocar apenas três músicas do disco novo, foi um show de dar salvas e o cinturão do hype envergado pelo LCD foi defendido em uma bela peleja, ainda que esta tenha sido vencida por pontos.
O Coachella é inclemente: não existe tempo hábil para a absorção de uma experiência estética. Não se degusta nada, se traga um manjar com compulsão, mal se digere o que está ainda nos tímpanos e você já é obrigado a passar para a próxima etapa do menu-degustação, não importa quão cheio esteja seu estômago ou se você está a um timbre da congestão sonora. Pois, lançado de uma tenda para a outra por conta do inclemente alarme, me deparei com o show do Fever Ray e, mais uma vez, o choque.
Fever Ray e a alucinação de Tim Burton
O palco do Fever Ray anunciava já que o show que veríamos ali não seria convencional: dezenas de lustres vitorianos, dispostos em alturas diferentes com relação ao solo, causavam enorme estranheza e emprestavam ao palco uma atmosfera de casa vitoriana atormentada por espíritos.
Pois, em alguns instantes os espíritos tomaram o palco e fizeram uma apresentação que foi a mais forte do primeiro dia. Projeto solo de uma das integrantes do The Knife, a sueca Karin Dreijer demorou alguns minutos para entrar no palco depois do início da apresentação. Os integrantes do Fever Ray, todos eles irreconhecíveis por conta do figurino, pareciam interpretar diferentes papéis: a percussionista, coberta por uma burka escarlate, movia-se como em transe e ondeava seu corpo em movimentos rítmicos que converteriam qualquer mãe-de-santo ao cristianismo.
O guitarrista, com um chapéu enorme de fisiologista em tempos de peste negra, empunhava uma vassoura e parecia aspergir algum líquido santo sobre a platéia. Karin entrou no palco e quando suas cordas vocais vibraram conseguiu fazer o deserto esfriar. De sua boca saiu uma voz fantasmagórica e duplicada, como se os vocais não pertencessem apenas a uma pessoa, mas a duas, três, tantas quanto os espíritos que Karin carregava dentro de si. Uma voz com a potência de todo um coral.
O som era inexplicável: um electro-goth mórbido xamãnico, melancólico e pesado, de compasso lento, delicioso. Os lustres vitorianos piscavam em cadência com as composições de Karin e, como se isso não bastasse, todo o ambiente era rasgado por raios laser multicoloridos. Jesus amado. Mais alguns momentos sob o encantamento daquela bruxa e certamente eu teria um AVC. Com o corpo ainda sofrendo espasmos, me arrastei até o estacionamento, onde mais duas horas de trânsito me separavam do conforto de meu catre improvisado com lençóis no chão do quarto de alguns amigos no hotel onde pernoitava.
Facundo Guerra é pós-graduado em jornalismo e sócio das casas Lions e Vegas e dos bares Volt e Z-Carniceria, em São Paulo.