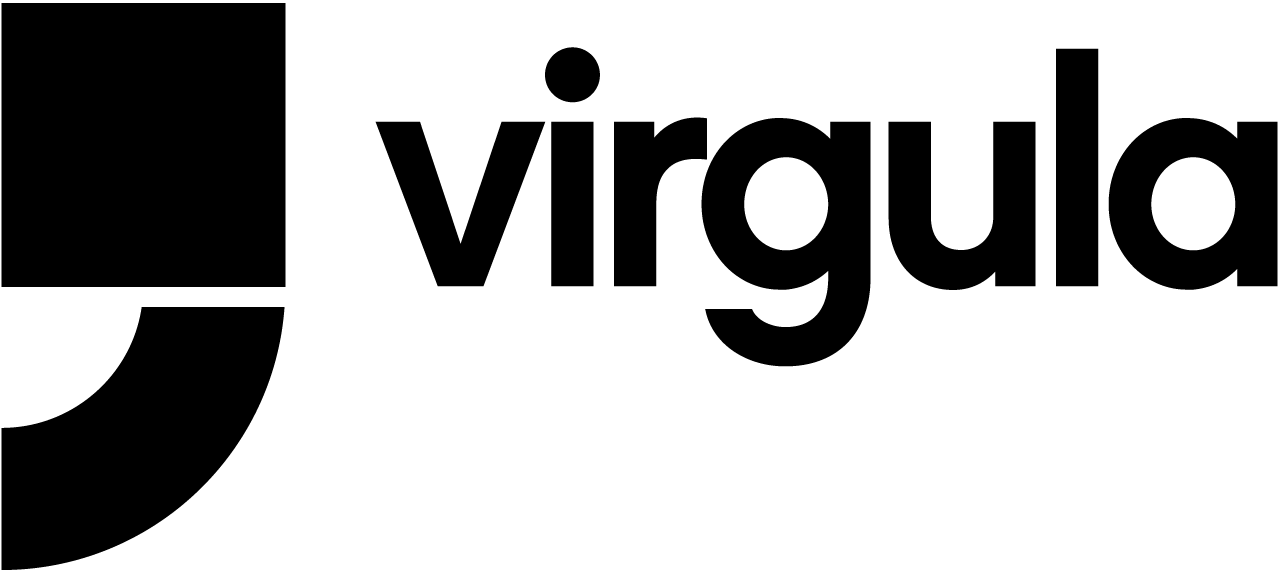Para quem vive à margem, as 85 mil pessoas que estão indo todos os dias ao Rock in Rio representam uma chance de levantar um dinheiro, comprando e vendendo ingressos ou qualquer coisa que alguém queira.
Enquanto multidões caminham para chegar à entrada do festival, numa ponte de madeira onde só uma pessoa passa, homens e mulheres de todas as idades entram e saem correndo da “fronteira” que separa os os excluídos da Vila Autódromo, região vizinha que passa por processo de desapropriação. O canteiro de obras a todo vapor para as Olimpíadas, entre máquinas, trincheiras e grades, aumenta a sensação de um cenário de guerra.
Impedidos pela polícia de carregar caixas de isopor pra vender cerveja, água e outras bebidas pra quem chega com sede, eles atravessam a ponte sob olhares de tiras armados até os dentes e que aparentam mais medo dos contraventores que o contrário. Lá dentro, luzes piscam, a música das tendas de pequenos comerciante se mistura com o som que vaza do palco eletrônico, a poucos metros, indicando que mesmo pra quem fica de fora, ali também é dia de rock.
Lá dentro, na Cidade do Rock, o que acontece no backstage, fica no backstage. Não que alguém esteja fazendo alguma coisa errada, mas é que lixo e lama pouco tem a ver com o brilho e as cores que a TV mostra. Assim, nós entramos no subterrâneo do festival para mostrar os excluídos e trabalhadores dessa engrenagem.
Jorge Renato Batista Felício e Tiago Silva Nascimento, catadores de lixo reciclável do Instituto Doe Seu Lixo, projeto ambiental da atriz Isabel Fillardis trabalhavam no ritmo do rock. “É um som bom de se curtir. A gente tá aqui fora, dá uma vibração boa e faz a gente cair pra dentro do serviço”, afirma Jorge. “Tem o divertimento, tem as pessoas que não tratam a gente com indiferença, independente do tipo de trabalho que estamos fazendo”, completa, já indicando, ao negar, que há um estigma.
“Reaproveitamos tudo, a latinha, a pet, o plástico fino, o plástico grosso, até mesmo o óleo a gente recicla”, explica Jorge. Com a crise ambiental, termos como “jogar fora” e “lixo” são conceitos em desuso.
Caminhando pela rua estreita por onde trabalhadores acessam a Rock Street e os fundos de todos os cinco palcos do festival, nós nos deparamos com uma entidade migrou do underground para o mainstream: o malandro. Rodrigo Marques é da Companhia de Dança Carlinhos de Jesus e veste camiseta com listras e calça branca.
“Obviamente que a figura do malandro surgiu a partir dos malandros contraventores. Mas hoje a gente brinca com o malandro como o Nordeste brinca com o cangaceiro. Conseguimos trazer o que o malandro tinha de bom, a ginga, a forma de dançar”, diz ele, explicando que a gafieira é a dança a dois que acompanha o samba.
“O Carlinhos considera cada ação dele tão séria quando a de um médico cirurgião. Qualquer erro no palco é como um médico esquecer um bisturi dentro de um paciente”, afirma ele, sobre o nível de exigência do patrão. “Você pode ver, a gente tá com essa roupa branca desde de manhã e tá todo mundo limpinho”, diz Rodrigo, enquanto caminha calmamente em meio à lama.